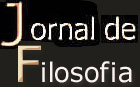|
I.
SUBURBIA
Tarde
azul. Tarde de rir e cantar. Boa tarde… Boa tarde, Pedro Lena!
Soltas, as casas trepam nos morros verdes, escondem-se atrás das árvores,
fogem no rumo da Mata Escura. Aqui mesmo começa a estrada…
Estrada para quem vai! Deixa de ser a quem volta, quando aqui mesmo
se perde – engolida pela Cidade… Mas tu, que vais, podes ir –
sem saber aonde!
Pedro Lena marchava, sorrindo a pensamentos que
rompiam das coisas. À entrada do vale, contornou o monturo –
escuro! – onde se despejava o lixo civil. Ardia fogo nas
profundidades da estrumeira, e um fumo quase indistinto se alava ao
céu sem nuvens… Volutas solutas, suaves na aparência, detestáveis
pela exalação acre.
Entre morros paralelos, que a guardavam, a Lagoinha se
estirava na frescura do vale como um canal parado. Lagoinha das
lavadeiras. E a estrada ia bordando o cristal liso, galgava por
vezes a meia encosta – para não se molhar.
Ajoelhadas na água rasa da margem, as lavadeiras
batiam nas tábuas as camisas da Cidade. Corpos metálicos.
Fisionomias graves, a fisionomias brandas, e fisionomias que se
iluminavam a vozes tagarelas. Negras murchas, e Negras luzidias, e
Negras menos Negras, que se diriam douradas: mães fatigadas de sol
e trabalho, moças de encantos presentes, meninas compridas,
indecisas. Negraças! Negrinhas! Negritas!
Pedro Lena passava, e a visão do labor feminino lhe
deu nova nota ao pensamento seduzido:
– Mulheres e trabalho de mulheres. A elas o encargo
das tarefas imediatas e necessárias. A elas os meneios amáveis, os
cuidados úteis, as penas fecundas. A elas os gestos diretos, que se
aliam às exigências do corpo… Tratar da casa, dar o de comer,
lavar a roupa, aleitar o filho, deleitar o leito!
Na presença azul da tarde faziam-se mais vivas todas
as variações do verde – tons inumeráveis, diversos de árvore a
árvore, inconfundíveis no chão ervoso. Sombra na tarde azul, uma
adolescente cantava… Cantava, e seu canto voava no vale como um pássaro
solto:
Diz
o Senhor – que eu sou sua…
Busto ereto, braços nus, seios altaneiros sob o
corpete justo, ela cantava a molhar o linho ensaboado. Brilhava-lhe
a pele fina e luzente. Por acaso ergueu a cabeça, e os olhos
pasmados pousaram no forasteiro o seu fulgor sombrio. Um momento a
cantiga pareceu hesitar, esconder-se; mas num átimo a voz
retomou-lhe, em maior limpidez, as notas perdidas:
Diz
o Senhor – que eu sou sua…
Em
que papel – me assentou?
Sua
– eu não – mas quem é sua,
Que
eu bem sei – de quem eu sou!
– É minha, Dalice! Gritou-lhe alguém dentre as árvores
da encosta.
Os olhos dela se volveram surpresos para outro homem,
que lhe surgia em frente, junto ao caminho, onde o primeiro acabava
de passar. E era este agora mais negro do que ela, e olhava-a com ar
de gosto e certeza.
– Ué! Joviano! Disse Dalice.
E como Pedro Lena, também surpreso, voltasse a cabeça
por cima do ombro, sem deter o passo, para ver o galanteador,
franziram-se num riso os lábios da moça. Desdém e momice:
– Joviano, cantiga é cantiga! Por muito que você
queira, não chega aos pés do meu dono!
– Aonde queres ir, caminho preguiçoso? Aonde levas
Pedro Lena? Tarde azul… Morros verdes… Lagoinha de águas
paradas… Tão bom seguir este vale de Paraíso achado! Tão bom
ouvir as canções do caminho! E ouvir nomes… Dalice! Um nome que
soa macio. Da-li-ce… Dalice!
Pedro Lena comparava. Eram coloridos esses nomes de
Negras. Pedro Lena sabia outros… Vira e conhecera muitas outras, e
seus nomes pertenciam todos a uma categoria particular. Eram elas,
na lembrança, Quitéria – Pulquéria – Damiana – Gertrudes
– Apolônia – Rufina – Benedita – Januária – Bárbara…
Nenhuma Dalice! Nenhuma de nome que tanto soubesse a flor e mel.
Nome para ser guardado como lembrança de uma harmonia…
– Tarde azul… Boa tarde, passeante sem pressa!
Bom-bom o perfume do mato! Olha, longe, na colina da outra margem:
três vaquinhas pintalgadas, netas de touro holandês. Todas de
costas para o Sol… Estão a ruminar cuidados bovinos. Cismam
talvez nos bezerrinhos, que ficaram presos, e não podem mamar!
A Lagoinha findava em meio de canaranas viçosas e
nelumbos rosados, onde o terreno se alteava. Pedro Lena voltou-se
ainda a contemplar a água estirada ao longo do vale como um canal
parado; e vislumbrou, distante, o brilho das roupas estendidas ao
Sol. Um momento, um claro momento, imaginou também que lhe chegava
aos ouvidos um murmúrio impreciso… Como toada longínqua de um
canto sem palavras.
II.
DIVERTIMENTO
Anima-se à tarde um recanto de arrabalde: chamados, gritos,
risadas sonoras. Um bando de Negrinhos traquinas corre, brinca, sem
cuidados.
Risadas, gritos, alvoroço de crianças. Vem de lado
uma voz, doce voz cuidosa, que pergunta a medo:
–
Ó meninos, estão brigando?
O
Negrinho mais próximo responde:
–
É nada, não, mamãe: é briga de brinquedo!
Corridas.
Saltos. festivo alarido.
Quantos
são? Não há contá-los. Tantos!
Acaso
passa ao lado a mais soturna velha da vizinhança. Passa, torce
caminho, murmura contrafeita:
–
Ó meu Deus, quem pariu tanta criança?
Fidelino,
impaciente, guarda a manja:
Manja,
manja, manjeleiros!
Quem
chega à manja primeiro
É
o melhor cavaleiro!
Ora
disperso ao redor do círculo mágico, o bando impetuoso arremete,
fugindo ao guardião, que tenta fazer um prisioneiro…
Anima-se
o jogo. Para quem os vê, os Negrinhos são como as crianças
brancas Dir-se-ia que as crianças brancas andaram pela cozinha, e
se tingiram com toda a tisna que havia no fundo das panelas.
III.
MANINHA RITA
Faz
sol, Pititi?
– Munto! Munto!
Céu azul?
– Zu-zu-zulinho!
Pititi, de fora, ao pé do lumiar, responde a Pedro
Lena, que fala de dentro enquanto afivela as botas de andar no mato.
Dois dias a chuva caíra contínua, e o morador da Casa Verde se
vira impedido no seu gosto de passear pela montanha. Não raro o
aguaceiro tombava com lufadas, que obrigavam Cordolina a fechar
portas e janelas; e das goteiras corriam torrentes com grande rumor.
Então Cordolina mal disfarçava o receio de ver o amo enfadada; e
invectivava o tempo, exclamava:
– Quem havia de dizer? Nunca se viu tempo assim!
Ou falava a Pedro Lena como se pedisse desculpas:
– Isto agora vai mal, Nhonhô. Abril, águas mil!
Pedro Lena ria, divertido:
– Cordolina, Abril passou. Estamos no fim de Maio!
– Dá no mesmo, Nhonhô. É como quem diz!
Cordolina exercia ao redor do amo uma atividade
preventiva. Em meio das tarefas caseiras, o seu desvelo se
multiplicava em cuidados amenos. O bom apetite, que ele denotasse,
jamais a convencia bastante:
– Que pouco comer é esse, Nhonhô? Nem passarinho!
Se Pedro Lena entrava retardado para o almoço após
uma caminhada com o Sol a pino, ela exclamava, a modo de brando
protesto:
– Mãe de Deus! Não tem medo de morrer, não, Nhonhô?
Este Sol pega fogo na gente!
Era uma Negra de idade incerta, quase cinzenta. Tivera
uma irmã de lembrança triste, muito mais jovem, a sua Maninha
Rita, que o pai, duas vezes viúvo, lhe confiara ao morrer. E essa
irmã, filha um pouco de seus cuidados, lhe deixara Pititi… Pobre
Maninha Rita! O mal lhe viera de Ter casado com um sargento, um
mulato ruim! Ruim! Mas ficou Pititi, e Cordolina somente aceitara o
serviço de Pedro Lena com a condição de guardar o menino a seu
lado.
Muitas vezes admoestava a criança, com ternura grave:
Pititi ser um menininho bom… Pititi sair do sol…
Pititi não fazer barulho… Pititi andar bem direitinho! – E o
Negrito vivaz pousava os belos olhos na tia, surpreso de vê-la
ignorar a alegria da luz e dos rumores insólitos.
Cordolina também falava às coisas, em voz alta, como
se falasse a pessoas. Palavras ao fogo, que não queria arder.
Palavras aos legumes, se não eram muito bons para meter na
panela… No começo, Pedro Lena ouvia com espanto; depois, imaginou
que a espiritualidade de Cordolina abraçava todas as formas. Mas
eram extraordinariamente simples as explicações que ela dava.
De tudo, o que mais excitava a curiosidade era ouvi-la
falar de feitiços e quebrantos, que são coisas evidentes, ou
referir-se a lobisomens e mulas sem cabeça, que vagam de noite
pelos caminhos… Igualmente as histórias que contava a Pititi se
passavam no mesmo mundo convizinho, onde as pessoas estão sujeitas
a artimanhas de terríveis, misteriosos inimigos.
Nas relações comuns, a alma de Cordolina era sensível
e mansa. A sua doçura com Pititi jamais se alterava. Só parecia
realmente severa quando a criança, magoada nos brinquedos, ousava
soltar a interjeição de cólera:
– Diabo!
Então Pititi ouvia a ameaça de um chicote, que
estava guardado no baú para a primeira vez em que voltasse a
repetir o nome do Sujo!
A Pedro Lena, contata coisas estranhas à maneira de
quem conta fatos ordinários, ou dizia feitos de Negros, passados
outrora, no tempo da escravaria, e casos de morte, em que o
feiticismo vingava penas imotivadas.
Um dia contou-lhe a história de Maninha Rita:
– Nhonhô sabe, a gente é sempre levada pelo coração.
E Maninha Rita não gostava do militar… Achava bonitas as calças
vermelhas com lista azul, mas era Fausto o que ela trazia no
pensamento… Mas tudo foi culpa de Tia Zabelina, a quem Deus
perdoe. Tia Zabelina era muito casamenteira, e não via homem que se
comparasse a soldado. Salvo se fosse outro soldado! E todo o dia a
dar nos ouvidos de Maninha Rita para ela tirar Fausto da cabeça, e
casar com o sargento! Afinal, Maninha Rita acabou concordando…
Casou, e veio a desgraça. Logo no cabo de três semanas, o homem já
lhe batia, e lhe chamava nomes… E a coitada só sabia chorar!
Nhonhô sabe, não é? Gente moça precisa de consolação…
Maninha Rita e Fausto se encontravam muitas vezes para falar de
tristezas. Mas foi mais tarde, quando nasceu Pititi, que a vida de
Maninha Rita se tornou mesmo um inferno. Ah! O marido era um mulato
ruim! Ruim! Já Maninha Rita não punha pé fora de casa, e chorava
muitas vezes com o menininho nos braços… Pregunta Nhonhô se o
sargento sabia tudo? saber, saber de verdade, não sabia, não!
Mas… sentia coisas no ar, andava sempre falando em matar um diabo!
Assim Maninha Rita tremia pela vida de Fausto, e queria a toda força
que ele se fosse embora para outras terras… O que ela não podia
mais era continuar naquela aflição! Ora, qual é o homem que não
faz tudo, quando quer bem? Assim Fausto. Não queria ir, mas afinal
arranjou passagem para embarcar… Um Domingo, à noitinha, o
sargento saiu de casa, dizendo que ia ficar de guarda no quartel.
Maninha Rita logo tratou de deitar a criança. E mal Pititi pegava
no sono, uma voz chamou da porta… Era Fausto. Aí ninguém sabe
direito o que se passou… Parece que Fausto vinha dizer adeus para
sempre, pois muitas vezes a falar na viagem, que estava marcada, ele
aventava que nunca mais havia de por os olhos em Maninha Rita… A
verdade é que os dois ficaram juntinhos no alpendre, muito tempo,
lastimando a sorte. E foi então que o militar apareceu… Não se
sabe ao certo como foi! O que parece é que Fausto e Maninha Rita
nem deram fé que ele chegava… Ali mesmo, no alpendre, o malvado
matou os dois com dois tiros! Ti’ Nilau morava perto, e
aconteceu-lhe ser a primeira pessoa que acudiu. Ti’ Nilau contava
mais tarde… Quando os dois corpos foram levados para dentro, e
estendidos em cima de uma esteira, ainda se via no rosto de Maninha
Rita e no rosto de Fausto o sinal das lágrimas que eles tinham
chorado!…
Cordolina era alta e magra. Já lhe fugira de muito a
mocidade sem beleza. E Maninha Rita?
Oh! Maninha Rita era uma Negra bonita! Bonita! Um
tanto cor-de-café-com-leite, um tanto mais baixa, um tantinho cheia
de corpo E os olhos de Maninha Rita eram assim como os olhos de
Pititi!
IV.
XANDÔ
Xandô era um que usava barbicha na ponta do queixo, e dizia
não ser homem no mundo capaz depor a mão naquilo. Emproado e
valente, Xandô. Sua hora chegou cedo: morreu de mordidura de cobra.
Xandô morreu, e Manico das Brotas, moleque ladino,
lembrou-se daquela bravata quando ajudava a botar-lhe o corpo no
caixão. Manico das Brotas segurou levemente a barbicha de Xandô,
balançou-a de um lado para outro, chasqueando:
–
Agora, Xandô, você não tem mais prosa por causa destas repas!
Sabem
o que sucedeu? O moleque andou mais de um mês adoidado porque via
Xandô em toda parte. Até de noite, no sono, sentia umas mãos
frias, muito frias, a lhe puxarem pelos pés… Já Manico das
Brotas não comia, nem dormia, sem sabia meio de livrar-se daquele
assombro.
Um
dia, a conselho de gente séria, Manico das Brotas foi a Santo
Amaro, onde morava o feiticeiro mais sabedor, um chamado Kulungu.
Esse Kulungu ouviu toda a história sem dizer coisa. Mas, ouvida a
história, Kulungu moveu a cabeça três vezes, e ficou muito tempo
calado. Muito tempo! Depois, Kulungu falou:
–
Moleque, isso é para você aprender que não se deve bulir com
defunto. Mas eu dou remédio. Tome lá este grigri, e fique noite
acordado, com ele seguro na mão esquerda. Quando Xandô aparecer
– certo Xandô vai aparecer hoje mesmo! – peça perdão do
malfeito.
Esta
foi a palavra de Kulungu, a palavra que Manico das Brotas guardou na
cabeça. E de noite apareceu Xandô… Logo Manico das Brotas se pôs
de joelhos. Tremia todo, e dizia:
–
Eu peço perdão, Xandô! Eu peço perdão!
Parece
que Xandô não cuidava de perdoar, porque soltou uma risadinha
falsa, e falou com voz muito fanhosa, que fez Manico das Brotas
arrepiar-se todo. Xandô falou assim:
–
Moleque, eu preciso saber se tu és mesmo capaz de pegar em barba de
homem!
Manico
das Brotas choramingava. Só sabia dizer:
–
Perdoe, Xandô! Perdoe!
Xandô,
nem como coisa! Xandô ria. Ria com a mesma risadinha de arrepiar a
gente, e uns olhos muito fundos como dois buracos na cara; e avançava,
gingando, e já estava pertinho de Manico das Brotas, que chorava e
tremia…
De
repente o moleque se lembrou do grigri que tinha seguro na mão
esquerda, e foi como se Xandô acabasse de saber no mesmo instante
que ele tinha o grigri seguro na mão esquerda! Xandô soltou um
gemido triste, muito triste… Ao mesmo tempo, sem poder mais, lá
se foi afastando de costas, sempre de costas, até chegar à parede.
E desapareceu na parede!
Desde
esse dia Manico das Brotas ficou desaliviado… Era aquele um grigri
muito forte como só sabia fazer o velho Kulungu, que foi o
feiticeiro mais sabedor de seu tempo.
V.
CAUSA OCULTA
Há
bem dias passa mal o Negro moço, Cazu. Não come, não bebe, não
dorme. Sua mãe oferece:
– Um mingauzinho, meu filho?
– Fome, não, mamãe.
– Um pouquinho de água?
– Sede, não, mamãe.
– Veja se pode dormir um nadinha…
– Sono, não, mamãe.
As vizinhas deliberam:
– É preciso chamar Ti’ Onofre. Agora, só Ti’
Onofre. Ninguém mais pode com essas coisas!
À noite vem Ti’ Onofre:
– Que foi isso, crioulo?
Sei não, Senhor.
Mas Ti’ Onofre sabe: pergunta por perguntar. Manda
que se afastem todas as mulheres, fecha a porta por dentro.
Muito tempo a mãe e as vizinhas conversam no
terreiro, à espera. Afinal, à meia-noite, abre-se a porta, Ti’
Onofre aparece:
– Ele agora pegou no sono. Vai dormir até amanhã
de tarde. O mal já passou.
– Era feitiço mesmo, Ti’ Onofre?
Ti’ Onofre explica:
– O rapaz, sem querer, pisou em cima de coisa
feita… Encomenda de mulher na força da Lua!
VI.
CANTIGA
Passarinho verde mal pisou na rama pinicou a fruta que sentiu
madura. Depois se escondeu…
Nanja eu!
Quem
por maus intentos põe em moça a vista – ou a desengana ou por
mau a engana se mal pretendeu…
Nanja
eu!
Uma
por promessas que eram mal juradas passou da cozinha para a
camarinha… Digam se perdeu.
Nanja
eu!
(Passarinho
verde sabe adonde voa!) – Não via a mucama quando errou de cama
que era por mal seu?
Nanja
eu!
VII.
COISAS DA VIDA
Delfina
Rebola é ela. Delfina: ninguém lhe diz. Rebola: dizem-lhe todos.
Uns o dizem porque a sabem da Nação Rebola, e outros porque pensam
que esta Negra velha, meio curvada, que se vai de pés no chão, é
coisa perdida a rolar no meio das inutilidades humanas.
Delfina Rebola está sentada no belo alpendre, em casa
de Sinhá Linda. Sentada no chão, aos pés da Senhora, que é onde
se senta quem precisa e pede. Foi Dondom, a velha ama Dondom, quem a
tomou no portão e quem a trouxe a pedir; a mesma Dondom que acaba
de acender o lampião do alpendre, e retoma lugar na cadeirinha
baixa, ao pé da parede. Rebola fala, e Sinhá Linda escuta. A boa
Senhora, que sabe dar a quem não tem, escuta murmúrios de um
malfeito, que são resumo de história triste; e, menos curiosa que
piedosa, pergunta, acolhedora:
– Que malfeito foi esse, Delfina Rebola?
– Coisas da vida, Sinhá. Ontem de noite, eu já ia
dormir quando a Saturnina me apareceu lá no ranchinho. A princípio
não desconfiei nada. ela me salvou: Sua bença, mamãe. E eu disse
assim: Que andas fazendo a estas horas? Pois a menina sentou-se na
tripeça, sem responder, com os cotovelos plantados nos joelhos, e a
cara metida nas mãos. – Que é que tu tens, Saturnina? Preguntei,
espantada. Ah! Sinhá! A menina abriu num choro que cortava o coração…
E eu preguntava, preguntava: Mas que é isso, filha? Que é que tu
tens? Mais e mais ela chorava… Era um pranto sentido que vinha de
dentro da alma. e despois, uma luz me entrou na mente! Acheguei-me a
ela, passei-lhe a mão nos cabelos, devagarinho, bem devagar, e
preguntei baixinho… Ela balançou com a cabeça que sim, e caiu
nos meus braços. No momento, não quis saber mais nada. é minha
filha, não é? Fiz o que pude, até que se calou… Como quando era
pequenina! Só hoje de manhã contou tudo, tudo…
– Que idade tem a menina? Falou a voz clara de Sinhá
Linda.
– Eu nem sei bem, Sinhá. Se não estou enganada, já
anda nos vinte-e-cinco. Assim mesmo é como se tivesse quinze… Uma
negrinha boba, boba, Sinhá! Criada e vivida aqui distante, nunca ia
à Cidade, nunca via gente de fora… Em Setembro do ano passado,
arranjou-se um empreguinho para ela em casa desse doutor lá da Graça…
Gente rica, e um filho que vai também ser doutor… Pois o demo do
rapaz desencabeçou a menina logo na primeira somana! E todo esse
tempo ela vinha disfarçando como podia… Porque foi sempre cheia
de corpo, nem parece que está no nono mês! Mas está. A Zefa
Parteira, que mora perto, viu, palpou, disse que seria coisas de três
ou quatro dias… E pensei em vir pedir uns paninhos velhos!
Vagam distante os olhos de Sinhá Linda. Distantes,
piedosos. E depois, no silêncio, ergue-se a boa Senhora, e entra
para buscar o que lhe pedem.
No alpendre, as duas, Dondom na cadeirinha, ao pé da
parede, a Delfina Rebola sentada no chão, perto da grande cadeira
de balanço, de onde se foi a Dona. Dondom, conselheira, conselha:
– Há mais outras pessoas a quem pedir, Rebola.
A isto responde a outra que não sabe. Estava
habituada a socorrer-se de Sinhá, conhecia o bom coração que
nunca faltava. Bem podia ser que mais alguém quisesse ajudar a
pobre que pedia… Mas o rapaz que fez mal era de gente rica!
Um muxoxo de Dondom:
– Tu és boba, Rebola. Se é de gente rica, ainda
pior. Basta Ter feito
mal para não querer mais ouvir falar na tua filha. Isso de Brancos,
um em mil! Eles fingem que gostam da gente, mas só no começo… É
o que se vê todo dia. Tu és quem devia Ter prevenido Saturnina…
Agora, é tarde. Se fores fazer queixa ao tal doutor, ele é capaz
de dizer que o rapaz foi levado de si por tua filha… Pois eu não
sei? As Negrinhas vão servir aos Brancos, e são desgraçadas pelos
moços de cada. Não é isto mesmo?
– Às vezes é, Dondom.
– Às vezes? Mas é sempre, Rebola! Onde andas tu
que não sabes das coisas? A filha da Leocádia, a Nila do Mané
Raimundo, a Rosa, a Nicola, a Florzinha, tantas outras, que a gente
pode contar pelos dedos, até que se acabam os dedos e ainda há
nomes que contar, todas essas Negras mocinhas, que arranjaram
emprego na cidade, acabaram caindo na vida, ficando por lá mesmo,
ou voltaram barrigudas, como a Saturnina.
Que se há-de fazer, Dondom? São coisas da vida.
Afinal, a gente não há-de botar o filhinho no mato…
– Tu és boba, mulher! Quem fala em botar menino no
mato? Menino, se nasceu, é para se criar. Eu só digo é que tu não
ganhas nada em fazer queixa aos pais do moço. É agüentar, e
cuidar do mulatinho… Ainda bem para a Saturnina se for um menino!
– Pois olha, Dondom, eu até gostava que fosse uma
menininha… As meninas são mais pegadas à gente!
– Sabes lá o que dizes, Rebola! Filhas são só
cuidados. Eu não vou pensar que seria melhor que a minha Sinhá
tivesse um filho em vez de uma filha… Isso, não. Nem haveria
ninguém no mundo a quem eu quisesse mais do que a Licinha! Mas Sinhá
tem muito de seu… Imagina só que a Saturnina tivesse uma filha, e
que a mulatinha fosse mais tarde servir em casa de Branco… Havia
de acontecer a mesma coisa!
Ora, eis de novo Sinhá Linda, e atrás a preta
Sabina, que sobraça lençóis e camisas. São coisas dadas, que se
recebem com as duas mãos. E as mãos, que recebem, mal sabem pegar
em coisas tão boas:
– Ah! Sinhá! Deus lhe pague! Deus lhe há-de pagar!
Mas Sinhá Linda pergunta se Delfina Rebola não
precisa também de um colchão para a cama da que vai parir. Um
colchão? Deus do céu! Em toda a sua vida, esta Negra velha só
usou palha dura, ou esteira, em cima da cama de varas.
Desta vez é Dondom, que se vai com Sabina, e traz um
bom colchão até o alpendre. E Dondom, duvidosa:
– Podes levar tudo isto, Rebola?
Delfina Rebola sorri com seu sorrisinho triste:
– Que brincadeira de Dondom! Basta enrolar…
Enrolado e atado, ela o põe na cabeça, bem posto
sobre a rodilha, que fez do fichu; e enquanto o sustenta com a mão
esquerda, o braço direito lhe enlaça a trouxa de roupas brancas:
– Assim mesmo. Não cai, não, Dondom!
Agora, lá se vai Delfina Rebola. Veio magra, vai
gorda, formiga provida a caminho da cova.
VIII.
O COLAR DE OXUMARÉ
Bem no meio do caminho a cobra-coral de anéis cintilantes
– vermelhos, brancos, negros. Imóvel. Imóvel como se apenas
vivesse no brilho das cores.
Ó tu, que passas, enganador de mulheres, cuidado!
Cuidado!
Este
é o colar de Oxumaré. Foi por tua causa – por tua causa! – que
Oxumaré deixou cair o seu colar aberto.
Oxumaré
guarda as fontes. Este é o colar encantado, que Iemanjá, a Mãe-da-Água,
prendeu ao pescoço de Oxumaré.
Iemanjá
falou assim:
–
Oxumaré! Oxumaré! Aqui tens o meu colar.
Oxumaré
perguntou:
–
Que hei-de fazer? Que hei-de fazer?
Iemanjá
falou grave:
–
Oxumaré! Oxumaré! Protege bem as mulheres.
Oxumaré
perguntou:
–
Que hei-de fazer? Que hei-de fazer?
Iemanjá
baixou os olhos, Iemanjá falou severa:
–
Oxumaré! Oxumaré! Castiga os homens que enganam.
Oxumaré
perguntou:
–
Que hei-de fazer? Que hei-de fazer?
Iemanjá
riu… Iemanjá fica mais bela quando ri… Iemanjá riu na cara de
Oxumaré:
–
Oxumaré! Oxumaré! Ensina amor a quem não sente.
Oxumaré
entendeu… Oxumaré riu também. Oxumaré piscou um olho:
–
Hei-de fazer! Hei-de fazer!
Mulher
que foi enganada, e se consome de paixão, vai de noite, sozinha, à
fonte da mata, onde Oxumaré toma banho.
A
mulher vai sozinha. Há-de ser em noite de lua-cheia, à hora da
meia-noite… E a mulher deixa cair na água, onde a Luz se mira, um
ramo de arruda cortado de fresco.
No
mesmo instante Oxumaré já sabe o que ela deseja, e muda o seu
colar em cobra-coral…
O
colar de Oxumaré jaz no meio do caminho do amante enganador. E
agora ele passa… Passa, passa descuidado, e morre da picada
venenosa.
Mas,
quando o homem ignora o amor da mulher, o colar de Oxumaré lhe fica
apenas à vista E amor se acende no coração do homem!
IX.
MÃE PRETA
Ao
teu peito, o teu leite, que mamava,
Alegrava
o menino pequenino;
E
tu punhas carícias, e blandícias,
No
rir, no gesto, na ternura pura,
No
olhar escravizado ao neno amado.
Mãe
de amor, sem ser mãe, por mãe servias
Ao
filho que outra teve, flor de neve;
E
mais que a mãe, contente e docemente,
Rias
como se tua, mas não sua,
Fosse
a criança com as esperanças.
Mão
de amor, mãe de graça, amor compunha
De
cantigas antigas a espontânea,
A
ingênua e calma festa de tua alma,
Que
se pagava de lembranças mansas
Nos
afagos e beijos sem desejos.
Era
um jardim florido o teu vestido:
Na
saia todas cores eram flores;
Mil
matizes no xale posto a gosto;
E
o cabeção de rendas transparentes
Desnudava
mal justo o belo busto.
Preso
o infante no laço de teus braços,
Com
teu leite bebia a melodia
De
tua voz – o canto de acalanto;
E
grave, e suave, a Noite distendia
Sobre
as rosas do ocaso as negras asas.
Noite
fagueira, mensageira alada!
Vinha
com ela a paz, o sono, o sonho…
Dormia
o filho alheio no teu seio…
Alheio?
Não, mas certo teu dileto
Branco
filho, que hauriu teu leite branco.
Teu
filho, mãe de leite, mamãe preta!
Teu
no sonho, no sono sossegado,
A
desoras, e teu nas horas claras,
Se
ria, se chorava, se chamava
Por
ti… Teu bem, de quem eras escrava!
Menino
das meninas de teus olhos,
Que
aos dele só prezavas e miravas,
Sem
a procura de maior ventura,
Era
ele só todo o ano o teu engano,
Jamais
negado nem desenganado.
Era
dele, por ele, o teu cuidado,
Era
só dele o atento pensamento,
Os
sorrisos, os visos de alegria,
Os
íntimos receios, os enleios,
Ou
as penas apenas disfarçadas…
Onde
agora a memória desse tempo?
Onde
um traço no espaço percorrido?
Nada
sabe o presente indiferente:
Perdeu-se
a mocidade na saudade,
E
a vida fez-se lento desalento.
Triste
saudade, soledade da alma,
Vã
miragem de imagens enganosas,
Ermo
sem termo de íntimas distâncias,
Tanto
insiste a alma triste por fugir-lhe
Quanto
arde por achá-la em toda parte!
Velhinha,
tão sozinha, que te resta?
Que
pode o fido coração ferido?
Deu-se,
perdeu-se todo o teu carinho!
E
tu mesma, que o deste, não soubeste
Que
isso foi bem roubado, não bem dado…
Ou
talvez não: amor dá-se por dar-se.
A
mãe que ao filho afaga a si se paga
Da
ternura e doçura de fazê-lo:
Se
mais amor houvera mais lhe deras,
E
mais quiseres tê-lo para dar-lhe.
X.
ENCANTAÇÃO
Eu ia só, pela estrada, quando encontrei Velha Tatá com seu
feixe de lenha à cabeça. Ela pediu:
– Samu? Carrega um pouco este fardo, que a velhinha
está cansada!
Nosso caminho era o mesmo, com pequena diferença: a
velha morava perto, e eu ia para o Engenho. Assim, carreguei-lhe o
feixe de lenha até a porta… Ela me deu água a beber. Enquanto eu
bebia, preguntou rindo qual era o meu desejo…
Ri também, respondi:
– Ora, Tatá, o meu desejo é ver a Felismina!
A velha piscou um olho:
– Pois vai depressa, que hás-de vê-la três vezes!
Pus-me de novo a caminho. Como o Sol já estava baixo,
tomei o atalho do Panta, onde passa pouca gente. Caminhava ligeiro,
sem sombra no pensamento… Andei assim nessa pressa coisa de meia légua.
De repente avistei uma pessoa, que seguia adiante. Quem havia de
ser? Não precisei olhar muito para adivinhar o gesto de cabeça, a
cintura estreita de Felismina! O vestido era o mesmo de outra vez…
Mas a estrada tomava à direita, escondendo a moça de meus olhos.
Então apressei o passo, cheguei à curva do caminho… Acredite
quem quiser: não mais viva alma! olhando bem para o chão, não
descobri rastro de mulher!
Erro talvez de meus olhos? Fiquei meio bambo… Não
era medo, não. Mas não podia entender por que tinha visto e,
agora, não via mais a mulata! E fui andando… E pensava sempre
nesse engano, quando ouvi uma risadinha de mofa… Quem havia de
ser? Pois mal reparo na frente, lá ia Felismina! Podem achar
duvidoso, mas a mulata ia ali adiante, voltava a cabeça para o meu
lado, ria… Dessa vez estava mesmo brincando comigo! Então gritei:
– Agora, sim!
Gritei, corri para alcançá-la. Correndo, vi a moça
esconder-se atrás de uma moita… Isso eu vi com estes dois olhos!
Mas cheguei ao pé da moita – não estava ninguém. Ninguém!
Ninguém! Correu-me um frio pelo corpo… Ah! Não nego que me benzi
três vezes! Agente lá sabe… E larguei-me a correr!
Ao entrar no portão do Engenho, ainda trazia o
pensamento assustado, o coração me batia no peito…
De noite os Negros convidaram para a novena de Tia
Benedita:
– Vem daí, Samu!
Não queria ir, mas fui. Pois quem havia de dizer? Mal
entrei no terreiro, lá estava a mulata assentada, com o mesmo
vestido. E ria para o meu lado! Seria visagem? Não era, não. Logo
falei com ela, e disse:
– Ó Felismina, é a terceira vez hoje que ponho os
olhos em você!
A mulata riu com mais vontade:
– Só se foi feitiço, que faz um versem ser visto.
Felismina ria, sem dar muito às palavras. Mas nesse
instante, só nesse instante, alembrou-me uma coisa… Não diz o
povo que Velha Tatá é feiticeira?
Ainda bem que o feitiço tinha sido de meu gosto!
XI.
ALICA
Alica era Negra, filha de Negra da Outra Banda. E fiava, e
comia, e dormia, com um de sua lata chamado Binga.
Os
Negros moços maldavam:
–
Aquela! Oh! Aquela!…
as
Negras moças lhe davam palmadinhas no ombro, riam, diziam:
–
esta Alica! Oh! Esta Alica!…
Nada
dizia Binga, nem ninguém pensava dizer-lhe o que ele não sabia. Só
a Noite, que tem olhos para ver no escuro, só a Noite poderia
contar-lhe coisas que o Dia não conhece. Mas quando a Noite
chegava, Binga só queria dormir. Quem dorme é como quem está
longe…
Certa
vez Alica parecia triste. Binga perguntou-lhe:
–
Que aconteceu, mulherzinha?
–
Ó maridinho, estou a pensar que amanhã é lua-cheia, e que
precisas ir à feira da Cidade… E tenho outra vez de ficar
sozinha!
–
Amanhã é lua-cheia?
–
Pois não sabes? Olha que me prometeste trazer uma xale novo! Mas
era talvez melhor que eu não falasse Lá nessa feira há tanta
Negra bonita!
Binga
deu boa risada. Prometeu o xale novo, de que não tinha lembrança,
e jurou que na feira não havia Negra bonita como Alica.
Nessa
noite disse Alica ao seu amigo:
–
Amanhã é lua-cheia. Como Binga deve de ir à feira, há-de matar
um carneiro para levar carne à feira, e há-de por o couro
espichado no alpendre… Ouve bem, meu benzinho: é preciso que
passes ao meio dia pela porta, a ver se ele matou esse carneiro. Se
assim for, hás-de ver o couro espichado, o que será bom sinal; mas
de tarde passarás outra vez para saber se ainda lá está… E põe
o sentido no que vou dizer: se de tarde o couro ainda estiver no
alpendre, há-de ter acontecido alguma coisa que impediu a viagem de
Binga; se não estiver, então, sim! E como ainda será dia, e hás-de
encontrar gente nos caminhos, aqui tens uma roupa de mulher para
vestir por cima da tua, afim de que ninguém suspeite…
No
outro dia Binga sentiu-se indisposto, resolveu não ir à feira.
Porque não ia, não matou nenhum carneiro.
Por
sua vez o crioulo ficou-se acordado a mor parte da noite, apensar no
ajuste com Alica; e, porque dormiu tarde, dormiu até meio-dia. Já
desperto, pensou:
–
Como Binga foi viajar, matou o carneiro, e espichou o couro. São
coisas que se fazem sempre do mesmo modo. Mas se o couro está
espichado no alpendre da casa de Binga, não é preciso que eu veja
para Ter certeza. É bastante ir à tardinha, já vestido de mulher,
como Alica mandou… Se por acaso o tal couro ainda estiver no
alpendre, sinal de que Binga ficou em casa, passarei pela porta sem
bater!
Assim
pensou, assim fez o crioulo. De tarde, com a roupa de Alica por cima
da sua, aproximou-se da porta de Binga, e viu que no alpendre não
havia nenhum couro. E riu-se de todo o coração:
–
Casa, cama e mulher! Quem mais quer? – E contente bateu à porta,
que estava fechada.
Dentro,
inquieta, Alica disse:
–
Maridinho, estão batendo.
Assim
disse Alica. E perguntou, sem abrir a porta:
–
Quem bate?
Assim
perguntou Alica. E, sem esperar resposta, abriu a porta. Ao ver o
crioulo, agora surpreso da presença de Bina, ela voltou prontamente
a cara para o marido, e exclamou:
–
Maridinho, aqui está minha irmã!
Binga,
também surpreso, disse:
–
Manda tua irmã entrar.
Alegraram-se
os olhos de Binga ao ver a suposta irmã de Alica. E um riso
banhou-lhe o rosto:
–
Quando os olhos gostam, a boca pode pedir.
Mais
tarde, à hora do sono, Alica falou a Binga, baixinho:
–
Maridinho, como há-de ser? A casa tem apenas um quarto, que só tem
uma cama. Onde há-de dormir a moça minha irmã, que não pode ser
junto de homem?
Binga
decidiu:
–
Vai com tua irmã para o quarto, dorme com ela na cama, que eu passo
a noite na esteira da sala.
De
manhã cedo, Alica disse ao crioulo que se deixasse quieto como quem
dorme; e depois de cerrar-lhe a porta tomou ela o pote, e foi buscar
água da fonte, como era seu costume cada dia.
Ora
Binga, apenas a viu sair, foi mansamente à porta do quarto
espreitar a outra, que o seu desejo agora cobiçava. Desta
vez, porém, os olhos de Binga não se alegraram do que viram: os
olhos de Binga viram uma calça de homem que saía dentre as sais da
irmã de Alica. E o seu coração se encheu de raiva! E a
raiva de Binga era tão grande que ele andou muito tempo à procura
de uma foice, e não se lembrava onde a tinha guardado… Depois,
quando encontrou a foice, a raiva era ainda maior: Binga pensava
somente em matar Alica! E correu para a fonte…
Na
fonte, Alica enchia o pote quando viu Binga, longe, que vinha
correndo, com a foice na mão! E ela caiu de joelhos…
De
costas para o caminho, braços erguidos e olhos chorosos, Alica
tomava o céu por testemunho de seu desespero. E Binga parou junto
da fonte, espantado de ver e ouvir a mulher, que dizia:
–
Oh! Desgraçada sorte minha! De onde me vem tanto mal? quem já
soube de feitiço tão grande? Filhas de meu pai, doze filhas,
nenhum filho… Nenhum macho, todas fêmeas!… E vem esta noite
contar-me a que está em casa que as outras dez viraram homens…
Eram mulheres, viraram homens!… Quem já soube de sorte tão
mesquinha?! Valham-me os Encantados, e tirem-me esta vergonha que me
faz chorar!
Binga,
primeiro espantado, agora certo, exclamou:
–
Ó mulherzinha! Tu não sabes tudo… A que ficou em casa também
virou homem!…
–
Maridinho de minha alma, que está a dizer?! Desgraça!… Desgraça!…De
doze irmãs nascidas da mesma mão, só eu não virei homem!… Mas
a vergonha das outras é também vergonha minha… Maridinho de
minha alma, vai por favor! Vai depressa dizer à que ficou em casa
que se vá embora!… Não quero mais vê-la!… Mas escuta… A
pobrezinha não tem culpa… Não lhe digas palavras más! Não
tornes maior o seu vexame!…
Binga
fez como Alica pedia. E daí por diante procurou cercá-la de maior
cuidado, por temor àquele mal de família.
XII.
SANIM
Sanim pensou em casar como todos os Negros sérios de seu
conhecimento. Para evitar erro de escolha foi consultar Papai Dongo:
– Papai Dongo, Sanim quer conselho para tomar
mulher.
Papai
Dongo tinha os cabelos brancos de dar conselho a pessoas de todas as
idades: nunca lhe acontecera decidir em caso desta natureza. Pois
então? São as coisas mais simples que mais embaraçam. E Papai
Dongo puxou três vezes o fumo de seu cachimbo. Afinal, porque era
homem que sabia tudo, sentenciou:
–
Fez-se a mulher para o homem: cada um tome a que quer.
Sanim
pensou que este conselho era excelente, e escolheu a mulher de seu
agrado. Bem moça: para estar sempre alegre. Bem bonita: para dar
gosto.
Nos
primeiros tempos, correu tudo bem, como queria Sanim. Mas Sanim,
Negro sério, temia tornar-se marido enganado.
Foi
nele um temor tão grande que se tornou cuidado de todas as horas.
Ao entrar em casa, aspirava o ar, olhava a todos os cantos. A
mulher, indignada, perguntava:
–
Que é, Sanim?
–
Nada, não!
A
mulher de Sanim reparou naquilo; e foi de tanto sentir-se vigiada
que lhe nasceu o desejo de enganá-lo. É verdade sabida: ninguém
impede a mulher de fazer o que quer.
Uma
noite, por negócio urgente, Sanim saiu de viagem.
Ao
sair, disse:
–
Fecha bem esta porta, Livana. Fecha bem, que eu só volto amanhã!
Livana
encostou a porta. Fechá-la, fechou-a muito bem, mais tarde, depois
de entrado um crioulo, que Sanim não conhecia.
Entretanto
Sanim andava o seu caminho, e cismava. E tanto andou, e a cisma foi
tanta, que ele se deteve em meio do caminho, sem saber se era de
homem sério deixar a mulher sozinha por uma noite inteira… E
decidiu voltar!
Voltando
de tão longe, veio bater à porta ao primeiro cantar dos galos.
Bateu fortemente como dono e senhor.
–
Quem bate? – perguntou de dentro a voz de Livana.
–
É o teu marido: abre.
–
Nam-nam! Meu marido foi viajar.
Sanim
insistiu, jurou que tinha voltado de meio do caminho. Mas sempre a
voz de Livana:
–
Nam-nam! Sanim mandou que eu fechasse bem a porta!
Protestos.
Pedidos. Juras inúteis de Sanim. Afinal, a mulher disse:
–
Só abro se a vizinha conhecer que é o meu marido…
Sanim
foi pedir o testemunho da vizinha, que tinha casa um pouco afastado.
Sanim bateu. Logo a vizinha veio à porta:
–
Tu és mesmo Sanim. Ninguém pode duvidar!
Tornou
à própria casa, e outra vez bateu à própria porta:
–
Podes abrir, Livana: a vizinha conheceu que eu sou mesmo Sanim!
Livana
abriu-lhe a porta. E explicou:
–
Há tanto engano neste mundo! Imagina que fosse aí qualquer outro,
que me soubesse sozinha…
Sanim
riu satisfeito. Estava convencido agora de que tinha mulher tão séria
como ele mesmo queria.
XIII.
CATUTA
O
Branco aventureiro e a bela Negra se ajuntaram. Ela ria ingênua,
fazia tudo por ele, queria por ele tudo, feliz a cada oportunidade
de afagá-lo, e servi-lo.
Ele chamava:
– Catuta!
Catuta era ela; e seus olhos radiavam logo à espera
da palavra que fosse ordem: a palavra dele, infalível, a palavra a
que havia de estar sempre atenta para executar-lhe o sentido urgente
– por ato, lenta carícia, ou doce palavra.
Às vezes um chamado imperativo:
– Catuta!
Ela ouvia, e vinha, inquieta, a perceber na voz
estridente a impaciência do homem a quem faltava alguma coisa.
Às vezes um murmúrio cantante:
– Catuta!
Ela vinha a sorrir, pressurosa, alegre de oferecer-se,
certa de que era ela mesma que lhe faltava.
Mas, sem ouvi-lo chamar, vinha do mesmo modo, de
qualquer modo, de modo a não parecer que vinha, dando sempre feição
nova às mil aparências de acaso que a impeliam para o seu lado.
Um dia ele desapareceu – sem nada dizer. Então ela
chorou, chorou… Nessa tarde, nessa noite, no dia seguinte, o mundo
inteiro se encheu da sua tristeza.
– Foi-se embora o teu homem? Perguntou-lhe alguém.
Catuta moveu a cabeça lenta, que afirmava.
– Por que?
– Sei não.
Não sabe. Aventura-se porém a dar um motivo, o único
plausível à sua alma sem culpa:
– Só se eu lhe fiz algum mal sem querer!
XIV.
ESCRAVOS
A
Dona de cabelos brancos alude porventura ao tempo em que havia
escravos e escravas.
– Era bom Ter escravos? – pergunta a esposado
deputado! E acrescenta convencida:
–
Eu sei apenas que hoje em dia muito custa ter criadas!
A
Dona de cabelos brancos abana a cabeça – menos para protestar do
que para afirmar a relatividade das coisas. E porque se calam as
outras, jovens casadas, que escutam como se também quisessem
conhecer daquilo de que mal sabem notícia, a Dona de cabelos
brancos explica:
–
Já naquele tempo acontecia a uma senhora com muitas escravas o
mesmo que hoje acontece à que somente conta uma ou duas criadas…
Minha tia, a Baronesa, estava sempre a falar mal das dez mucamas que
tinha à roda de si, ocupadas em trabalhos de bordado e costura.
Costumava dizer às amigas: “Estas Negras são uns diabos. O que
elas querem é a minha morte!”
à
esposa do deputado isso não parece bastante explicativo:
–
Então não valia a pena ter escravos?
Logo
a Dona de cabelos brancos responde com vivacidade talvez excessiva
para os seus anos:
–
Isso, não! Sempre era bom tê-los para vender – e comprar outros!
XV.
MARTIM JONGO
Quem
não ouviu falar em Martim Jongo? Martim Jongo era um Negro da Nação
Nagô, birrento como ele só, que tinha uma mulher muito paciente,
chamada Maria Benta.
Morava esse Negro na Borda do Mato, lugar sem
vizinhos, à beira da estrada. E ninguém, ainda que longe, gostava
de Martim Jongo.
Certa
vez, à boquinha da noite, Martim Jongo entrou em casa com cara de
espanto, foi direto para a cama. O modo era novo, e Maria Benta
estranhou esse modo. Estranhou sem nada dizer: Maria Benta não era
mulher para fazer perguntas.
No
entanto Martim Jongo se pôs logo a gemer, a gemer… E mais do que
isso: Martim Jongo, na verdade, se pôs a urrar como se lhe
estivessem arrancando o nariz com um ferro!
Maria
Benta assustou-se. Quis saber o que era. Aproximou-se nas pontas dos
pés, a olhar pela porta semicerrada. Martim Jongo tinha a boca
aberta, os olhos arregalados, e resfolegava, e gritava, e bufafa, e
berrava, apertando o peito com as mãos…
Maria
Benta olhou, e teve medo àquela angústia. Pensou em remédio, e
logo se doeu de saber que não havia em casa remédio possível para
mal tão grande. Entre medo e surpresa, gritou:
–
Que é isto, Martim Jongo?
Martim
Jongo não respondeu. Mas, em seguida a um sobressalto mais
doloroso, pareceu respirar desafogado, e calou-se, e imobilizou-se.
Teria o mal passado? Maria Benta ficou-se a olhá-lo, muito tempo,
pela porta entreaberta. Depois, as mãos do Negro lhe escorregaram
do peito, os olhos ficaram parados. Eram os olhos parados que punham
Maria Benta agora confusa, aqueles mesmos olhos que ela bem
conhecia, olhos inquietos, olhos indagadores e suspeitos.
Muito
tempo, Maria Benta esteve queda a olhar pela porta entreaberta…
Afinal decidiu-se a ver de perto, e avançou devagarinho, até junto
da cama. Junto da cama, de pé, Maria Benta ainda se deteve a olhar
muito tempo. Depois, lentamente, curvou-se, palpou o rosto a Martim
Jongo, palpou-lhe o peito, e conhecer que Martin Jongo estava morto.
Maria
Benta era mulher muito paciente. Maria Benta não chorou. Nenhum
suspiro, nenhuma queixa lhe saiu da boca. Ajeitou o Negro na cama,
estendeu-lhe por cima um lençol branco, o mesmo lençol que noutro
tempo Martim Jongo tomava todo para si, quando dormiam juntos. Isso
feito, foi buscar a um canto do quarto a grande vela de cera, que
Martim Jongo tinha guardada para levar um dia ao Senhor do Bonfim, e
cuidadosamente a acendeu e pôs à cabeceira do negro. Outro levaria
outra ao Senhor do Bonfim!
Agora
Martim Jongo parece dormir. Foi o que pensou Maria Benta, ao sair do
quarto para ir sentar-se no terreiro com a vaga esperança de que
viesse alguém, por bondade, fazer-lhe companhia a velar o defunto.
Sentada, esperou.
Maria
Benta esperou muito tempo. Vizinhos? Ali mais ninguém morava, e
assim, à noite, quem havia de passar pela estrada?
Foi
só depois de muito esperar que Maria Benta apanhou seu rosário de
contas grossas, e ajoelhou no quarto, ao lado da cama, a rezar pela
alma do Negro. Maria Benta era mulher piedosa. Iam-lhe os dedos
desfiando, uma a uma, as contas do rosário. Uma conta marcava um
padre-nosso, outra conta uma ave-maria. Quando tinham passado quinze
contas de padre-nossos e quinze contas de ave-marias, estava rezado
um mistério. Maria Benta rezou até cantarem os galos pela segunda
vez…
Porque
já sentia os joelhos doridos, sentou-se a descansar, um momento,
sobre as pernas dobradas. E olho Martim Jongo, olhou-lhe a boca,
entreaberta como num meio riso, em contraste com os olhos
arregalados, duros, imóveis. Maria Benta parecia cismar, enquanto
olhava a cara do Negro. Cismava, talvez, que a alma de Martim Jongo
era a alma de um grande pecador. Ou podia não ser esta a cisma de
Maria Benta. A verdade é que ela se pôs outra vez de joelhos, e
tornou a rezar um mistério. Só no fim da última ave-maria voltou
a reparar na cara do Negro, de onde tivera os olhos afastados
durante a reza; de súbito o chamou, com voz severa, como quem
pedisse contas certas, que foram muito tempo negadas.
–
Martim Jongo! Martim Jongo! – chamou a voz severa de Maria Benta.
Martim Jongo! Não te lembras da vez que me deste com um chicote por
ciúmes de Petronilo?! Pois toma lá!…
Assim
disse Maria Benta, e com gesto resoluto fez do rosário um açoite
com que bateu na cara do morto. E apostrofou de novo:
–
Martim Jongo, Negro impostor! Não te lembras da vez que me botaste
fora da cama, e fiquei a noite inteira a dormir no chão? Toma lá!
De
novo o rosário flagelou a cara exânime. E Maria Benta continuou
invectivando, e açoitando:
–
Martim Jongo, Negro mau! Não te lembras da vez que me amarraste de
pés e mãos, e foste embora, e só voltaste no outro dia? Toma lá!
–
Martim Jongo, Negro malino, Negro ordinário! Não te lembras que me
disseste uma noite que minha mãe estava à morte, e eu corri como
doida até Tororó para saber, enfim, que era mentira? toma lá!
–
Martim Jongo, Negro sem sentimento! Não te lembras que me fizeste
andar de quatro pés, à roda de casa, só porque me tinha esquecido
varrer o terreiro? Toma lá!
–
Martim Jongo, Negro sem alma! não te lembras que me meteste uma
brasa na mão porque não havia água na jarra de beber? Toma lá!
Toma lá!
–
Martim Jongo, Negro sem coração! Não te lembras de quando me
rapaste a cabeça porque não estava a comida pronta? Toma lá! Toma
lá! Toma lá!
–
Ah! Martim Jongo! Negro ruim! Negro ruim! Não te lembras das muitas
vezes que me sujaste com nomes feios, como se eu fosse mulher do
mundo que ri para todos os homens? Toma lá, Martim Jongo! Toma lá,
Negro do Diabo! Toma lá!…
Com
o último açoite caiu-lhe o rosário sobre a cara do Negro. Nisto
Maria Benta levantou-se, mais que depressa, e deixou o quarto
aberto, onde a vela ardia à cabeceira de Martim Jongo, deixou a
casa aberta, e saiu. E fora, na madrugada escura e silenciosa, Maria
Benta seguiu direito, sem olhar para trás, caminho do arraial
distante, onde morava a sua gente.
XVI.
NOITE NEGRA
Os
atabaques toavam.
Percussão simultânea de três instrumentos…
Harmonia a todo instante rompida, e renascida. Vibração
continuada, encadeada por indefinita ressonância. Música abafada,
soturna música, a um tempo remota e próxima, como sombria,
ondulosa murmuração da noite. música da noite, música das
trevas, nascida, crescida, levada nas trevas; e, perto, ou longe, o
seu reclamo retumbava, tombava, torrente invisível.
Ainda quando nos retiros distantes, as Negras fremiam:
– O batuque de Tia Sabina está animado… Ah! Eu lá!
Em casa de Tia Sabina a festa começava. Os convivas
lhe vinham de todos os cantos da noite, movidos da cadência
fascinante. Vinham por caminhos quase imperceptíveis à claridade
das estrelas; e ao surdirem da escuridão, na entrada do terreiro,
onde as candeias fumavam sobre estacas altas, homens e mulheres se
retinham, cautamente. Mas rápido o fragor imediato dos tambores
penetrava nas almas, dissipava os mais íntimos enleios.
Sentados, os tocadores: Zeferino, Juvêncio, Barnabé.
Cada qual segurava entre os joelhos o instrumento em que batia com
as mãos espalmadas, a marcar a sucessão do ritmo cavernoso. De
tempo a tempo, uma pausa; e o derradeiro acorde se prolongava,
rolava no segredo noturno, até perder-se ao fundo de um abismo
irreal…
– Êta! Zeferino! Você está mesmo bom! – clamava
um louvor ao mestre da música.
A pausa era também desafogo de risos e palavras. Tia
Sabina, modesta, respondia a gabos amenos:
– Isto hoje, minha gente, não é festa de santo.
Apenas um catimbó!
Tia Sabina faz tudo bem feito. Bastava a lembrança de
mandar chamar Zeferino… Hein, Zeferino? Depois que se mudou das
Brotas, não há mais quem lhe ponha os olhos em cima!
– A culpa é sua, Bertina, que ainda não quis ir a
Santo Amaro… Lá também há folguedo! A falar verdade, eu não
vim cá pela vontade da mana Sabina… Vim pelo meu gosto de ver
mulher bonita!
A um lado três moças cochichavam, de olhos atentos a
tudo. todas três de branco: saias pregueadas, cabeções de linho e
rendas, ombros nus, braços nus. Os brincos de ouro e coral, nas
orelhas pequeninas, e os colares de cores, no pescoço, lhes davam
mais brilho à fina lisura da pele retinta. Eram amigas íntimas, de
todos sabidas: Florisa, Canduca, Celina. Falavam de um que não viam
chegar. Celina falava:
– Só se ele não vem…
– Achas que vem, Florisa?
Florisa alteou as sobrancelhas, e deu com a cabeça de
lado. Canduca afirmou convicta:
– Se voltou do Remanso, não deixa de vir… Quando
por mais não seja, pela esperança de ver a outra!
– Ele que perca a esperança… A outra tem outro!
– replicou Celina. E logo ajuntou conselho de amizade:
– No teu caso, Florisa, eu não daria mostra de
gostar daquele tolo!
Florisa alterou-se:
–
Tu és boba! Eu
nunca disse que gostava…
– Eu só sei que não desgostas!
Canduca olhava a entrada do terreiro. Foi dela a nova:
– Chegou ele.
Rompiam exclamações:
– Casimiro! Casimiro!
– Aqui está quem se esperava!
– Viva o rei dos dançadores!
Casimiro entrou sereno, certo de si. Vinha com dois
amigos, mas eram para ele as atenções. Galante, marchou para a
dona da casa:
– A sua bênção, Tia Sabina!
– Deus te abençoe, meu sobrinho. Estava eu dando
pela tua falta!
Ele expandia-se, abraçado, lisonjeado. Pagava um
sorriso mais largo aos amigos preferidos. Parou alegre a falar com
Zeferino. Cavaqueou com Juvêncio. Por último reparou nas moças,
procurando acaso a uma que não via. Achou-se junto das três
amigas.
– Ó Casimiro, nunca vi homem tão esperado! –
disse Canduca.
– Riu-se ele, envaidecido:
– Aposto que você também me esperava.
Canduca deu um muxoxo:
– Não vê logo?!
E Florisa?
– Eu nunca espero por quem se faz esperado…
Em frente a elas, apoiadas as mãos na cinta, ele
bamboleava o corpo esbelto. Falava preso a outro cuidado.
contou-lhes da própria ausência, retido no Remanso, onde tinha o
pai doente:
– Agora vou ficar aqui uns dois meses… Era tanta a
saudade!
As amigas se entreolharam. Canduca notou, risonha:
– Ninguém duvida. Você sempre gostou de cá…
Casimiro percebeu-lhe uma alusão. Respondeu, sem se
dar por achado:
– É verdade…Gosto antigo!
Já Zeferino o chamava para combinar músicas de dança:
– Ora, Zeferino, eu danço tudo! é melhor combinar
com estas moças. Demais, ainda não estou pronto!
Tia Sabina interveio. Por que não havia de ser música
de santo? A este alvitre, sentaram-se os tocadores, e não tardou
que nos atabaques estrugissem os primeiros compassos de uma coreia
antiga.
Formou-se a roda. Braços erguidos, e mãos
estendidas, suspensas, a tremularem como asas de aves que estão
peneirando para pousar, mulheres e homens se meneavam no caminho
sonoro da dança. Iam-se lentos, incertos, mal ocupados por pensares
errantes, enquanto as flexões do ritmo eram convite indeciso. Tal a
fogueira de ramos úmidos, que o sopro do vento pouco e pouco
anima… Sutilmente avançavam, retrocediam; sutilmente deslizavam
em giro circular. Breve, no entanto, o mundo se fez unidade, e
encheu-se a noite universal do fulgor de todas as vozes, fundidas na
voz profunda dos tambores – arroubo, turbilhão, vaga imensa
arremessada para uma praia inatingível. A maior aceleração do
ritmo ajustava a certeza dos movimentos. Música e dança descreviam
as mesmas curvas, como se uma e outra não tivessem expressão
separada, e cada uma existisse por efeito exclusivo da outra: a dança
vibração uníssona, e a música imagens, por mágica transposição
dos gestos aéreos que a mimavam.
Casimiro, que fora vestir o traje de gala, reapareceu
no terreiro, ainda inquieto. Os olhos lhe buscavam alguém que não
viam, e ele não se guardava do despeito, embora o despeito não
passasse de devaneio, ou feição diversa de uma dúvida a que não
quisesse dar tento…
Os da roda lhe voltavam a cabeça, as mulheres
sorriam. O traje de festa fazia-o magnífico. À semelhança dos
outros estava de pés no chão, mas ostentava ele só, o busto e os
braços nus, e vestia calças de linho branco, presas à cinta por
larga faixa escarlate, cujas pontas lhe caíam de lado, arreadas em
borlas a modo de duas rosas vermelhas. De vê-lo os homens,
admirados, se moviam mais prontos e ágeis, ao passo que as mulheres
criavam da própria sensação outra imagem de inefável certeza.
Algum tempo dançou descuidoso, entre Bertina e
Celina, figurante indistinto. Mas a dança lhe ardia no sangue, e da
pura espontaneidade surgiam perfeição e graça como dons
conquistados. A um passo mais troante dos tambores, atirou-se ao
meio da roda a voltear longamente sobre si mesmo, nume de asas invisíveis
tornado o eixo da roda encendida. Nada mais o detinha, nem nada da
difícil realização do jogo alado se revelava a diminuir-lhe a
cintilante maravilha. Dança e canto se reacendiam da sua flama –
vibração nova, intenção sedutora, e traslado aéreo de experiências
longínquas. O mistério criado do espírito absorvia o mundo
aparente: tudo o que era explosiva sucessão de acordes, música dos
sentidos, suprimia os sentidos para transmutar-se, e encher a noite
em que subiam, estrelas de ouro, as palavras do cântico unânime.
Casimiro, dançando ao centro da roda, mal tocava a
terra. Em torno, o círculo móbil, que lhe fugia, somente fugia
para voltar, e cercá-lo, e envolvê-lo, e fugir-lhe de novo, e buscá-lo,
indefinidamente. Pela sua deparava-se a maga presença imaginária,
sortilégio de Xangô: o próprio Xangô descido das alturas, e
revelado pelo artifício do cântico numeroso; Xangô manifesto, e
munificente, e propício, porquanto manifesto:
Oê! Oê!
Xangô!…
Oê!… Oê!…
Oê!…
Oê!…
Do mesmo influxo mudava-se a toada reboante para
fazer-se branda; e o fragor dos tambores, que a ditava, e se mudava
do mesmo passo, brandamente, gravemente, já sugeria o reflexo do
trovão que se amortece ao longe. Agora o tom menor, sobrevindo ao
desmaio passageiro, era pura harmonia sem motivo.
Homens e mulheres se meneavam mansamente. Ao que fora
exaltação, sucedia a graça esperada. Tocados da certeza do Orixá
glorioso, participavam todos da presença incomparável, se não que
hauriam misterioso amavio da ventura de senti-la. as mulheres, mais
que os homens, como que mergulhavam na comunhão perfeita de que se
julgassem a causa e o fim; e fruíam nas profundezas do ser as delícias
do instante, qual se as devesse embalar perpetuamente. Uns e outros
volitavam isolados no próprio enlevo, somente unidos pela encantação
dos tambores. Nem eram música e dança mero jogo inconseqüente:
juntas tramavam por encanto um caminho prodigioso, estrada aérea
sobre o mar noturno que separa o exprimível do inexprimível. No
turvo mar noturno tombavam, perdiam-se, por inúteis, os temores e
desejos, as penas e dúvidas. Os olhos abertos não viam o que
olhavam. O pensamento sem memória abismava-se no tempo imóvel.
Um grito ressoou – estridente, longo, doloroso, e
caiu Bertina, que logo levaram mãos diligentes. Ainda, a seguir, um
homem e uma mulher caía também, vítimas frágeis a quem cegara o
esplendor magnífico… Oh! Xangô é forte! Xangô desdenha os
fracos!
Oê!… Oê!…
Oê!… Xangô!…
Oê!…
Ao que sente e tem medo não o quer Xangô!
Ao que nada percebe nem se encanta não o quer Xangô!
Ao que moteja e duvida não o quer Xangô!
Ah! Xangô é grande! Quem não crê em Xangô não
lhe conhece a força. Xangô é grande! O seu palácio de bronze tem
dez mil portas. É ele quem monta o cavalo negro da tempestade. É
ele que fala na voz do trovão, e arremessa das alturas o corisco
flamejante, para castigar os maus… Só para castigar os maus!
Ah! Xangô é grande! Xangô é grande, valeroso,
justo. Xangô vê e sabe. Xangô vê, sabe, e julga os maus e os
bons!
Oê!… Oê!…
Oê!…
Oê!… Oê!…
Oê!…
Oê!…
Doçura calorosa, completa, exclusiva. Só de senti-la
marchavam todos no caminho suspenso, a larga estrada das almas
confiantes…
Quando a música parou, viam-se ainda os braços
erguidos, os olhos que olhavam além das aparência. Apenas um
instante. Ao silêncio, rompeu-se o véu da magia. Vozes, murmúrios,
risadas, satisfação física do repouso, no fim da estrada sonora.
Tia Sabina oferecia toalhas aos que estavam molhados
de suor, atenta ela mesma a Casimiro, a quem enxugava os braços e o
busto gotejantes. E todos o cercavam a ele para louvá-lo, mais
ardentes as mulheres:
– Casimiro! Nunca vi dançar tão bem!
Palavras. Palavras que lhe soavam indiferentes.
Ao lado, Florisa disse baixinho:
– Você está pisando corações!
Olhou-a ele, zombou:
– Aí está do que não gosto. Coração de mulher
é como pedra que faz tropeçar!
Ao tom da resposta confrangeu-se a moça. Mas a
alegria enchia o terreiro. Todos riam e bebiam. É bom beber e rir!
E não foi longa a pausa. Em pouco, os atabaques voltaram a bater:
de novo a cadência toante se ajustava aos enleios da noite. a roda,
refeita, cantava e bailava…
Assim outra vez. Assim muitas vezes.
Jamais Casimiro dançara tão bem, nem nunca ninguém
o vira tão belo. Ardiam as Negras jovens. Sob as camisas rendadas,
os seios lhes arfavam – os seios que se adivinhavam à feição de
beringelas maduras, guardadinhos como presentes que se hão-de
receber um dia… E o que desejavam os seis arfantes, bem o diziam
os olhos tenebrosos. Em vão o diziam… Em vão! Alheado a tudo,
Casimiro dançava tomado de estranho delírio.
– Senhor! Que tem hoje este Negro?
Ao fim de cada bailado, quedava-se avesso, vago, sem
gosto. Era a dança que o transfigurava. Então as Negras jovens
acendiam mais o fogo dos olhos, faziam meneios gentis… As Negras
jovens tentavam mil maneiras com requebros e risos para excitar-lhe
a atenção… Seguiam-no, cercavam-no, sombras afáveis do desejo
nu. Damiana, Daninha, Dalinda, chamadas as três Dás, pareciam mais
que todas apostadas em vencê-lo.
– Senhor! Quem têm hoje estas Negras?
Celina e Canduca notavam, à parte, o jogo provocante.
Entre ambas concertou-se um plano malicioso:
– Há-de ser depois da ceia.
– Ele precisa saber que é tolice pensar na outra!
A ceia começou à meia noite, dentro de casa. Tia
Sabina arranjara mesa comum na sala da frente, por ser a maior; e na
estreita peça lateral, onde se erguia o Peji, adornado desde a véspera,
havia outra mesa, igualmente coberta de iguarias. Na sala grande, a
maioria dos convivas; na sala do Peji, uns poucos a quem se
distinguia. Mais deferência que diferença. Cada um fazia como em
sua casa, e nada impedia entrar na sala do Peji. Comida e bebida,
quanto quisessem.
– Tia Sabina sabe arranjar as coisas!
Tia Sabina sabia. Nem havia mãe-de-santo mais prezada
e respeitada.
Na sala grande, Florisa, filha de casa, fazia as
honras da mesa, ajudada por Juvêncio. Na sala do Peji, Celina e
Canduca serviam os convivas de honra, Mãe Andreza, duas comadres
menos idosas, Zeferino, Casimiro, Ti’ Onofre, alguns outros. Ora
em uma peça, ora na outra, Tia Sabina falava, risonha:
– Isto tudo é de comer, meu povo!
Havia muito que comer. Perna de carneiro assada na
brasa, galinha nadando em gordura, muqueca, vatapá, caruru, acarajés,
abarás, cuscuz, pamonhas…
– Ceia de Tia Sabina é banquete.
– Coma, coma, minha gente, enquanto não se acaba!
Na sala do Peji entrou Daninha: foi ao altar de mãos
postas, beijou a toalha branca em frente à pedra escura de Xangô.
Depois, a pretexto de dar uma palavra a Mãe Andresa, ficou-se ao
lado da velhinha. Bem sabia por que ficava!
Celina e Canduca se entreolharam, entendidas:
– Esta Daninha!
Casimiro, sem dar fé. Mas Daninha, dengosa:
– Ó Casimiro, deixa-me beber um pouquinho do seu
copo? Tanta sede!
Daninha bebeu:
– Foi para adivinhar os seus segredos!
Riu ela. Que riso! Celina e Canduca se entreolharam.
Conversa muda:
– Esta Daninha Credo!
Surgiu Damiana. Canduca e Celina pensaram:
– Mais uma!
Damiana, tão sonsa! Passou ao lado da mesa, direto ao
Peji. Ajoelhou-se por Obá, se não por Iemanjá, baixando a fronte
nas mãos… Contrição! Somente ao levantar-se pareceu notar a
presença de Daninha:
– Já estavas aqui! – E deixou-se também.
Dalinda veio em seguida. Nem sequer foi aoPeji: entrou
rindo, perguntando a Casimiro se era verdade…
– Que verdade?
– Eu sonhei que você ia dançar a dança do fogo!
Ele fez um gesto de indiferença. Daninha exclamou:
– Ai! A dança do fogo, Casimiro! A meu pedido!
Dalinda protestou:
– A seu pedido, não! A lembrança foi minha!
Zeferino interveio:
– Neste caso tenho de ser ouvido! Pois então? Não
há dança sem tambor… Eu também quero ser rogado pelas moças!
Riram as moças e as velhas. Casimiro sorriu:
– Está certo. Mas eu só dança se Mãe Andreza
pedir!
As risadas redobraram. Mãe Andreza, jovial, afirmou
que o seu não era pedido de moça. Assim mesmo, estava feito. Pedia
ainda a Zeferino que se obrigasse a tocar.
Zeferino concedeu:
– Não vejo outro jeito. Mãe Andreza não pede:
manda! Mas há uma coisa que muita gente não sabe… Dançador, que
dança, ou tocador, que toca a dança do fogo, pode botar o sentido
no orixá da sua devoção, dançando, ou tocando, que verá
realizado o seu desejo. Por mim, ainda não assentei o que Elegbá
me há-de fazer… Há tanta cara bonita nesta festa!
Celina, que buscava um pretexto, disse:
– Eu sei de uma pessoa que pode errar no desejo!
Casimiro, aludido, olhou-a. E ela, com desembaraço:
– É você mesmo, Casimiro! Mas eu sou boazinha…
Vou ensinar-lhe uma reza forte, que não deixa errar. Está
duvidando? Pois vamos ali para a janela… É segredo!
Deu-lhe de olho, e dirigiu-se ao fundo da sala, onde a
janela se abria ao lado do Peji. Pressentiu ele alguma coisa que o
interessava, mas seguiu a moça contrafeito, agourando mal do que ia
ouvir. E agora as Três Dás pensavam, despeitadas:
– Como ela está saída!
Na janela, aberta para a noite escura, Celina
apoiou-se de lado, voltada ara ele, que se aproximava sem pressa:
– Primeiro, deixe esses modos! Nem parece o mesmo…
Que soberba! É por que estas moças estão doidas por você? Olhe
que eu não sou como as outras!
– Que outras?
– As três Dás, que estão ali! Eu já pensava que
Daninha e Dalinda queriam brigar por sua causa…
E mudando de tom:
– Não é disso que se trata. Afinal, eu bem sei que
o seu pensamento anda distante… Esperava encontrar aqui uma pessoa
que não veio! É que você chegou de fora, e ainda não lhe
contaram o que aconteceu…
– Não entendo…
– Ora, Casimiro, não se faça de inocente!
Lembra-se da vez em que eu lhe disse que homem não sabe escolher? Já
naquele tempo andava a sua cabeça virada por causa da mesma
pessoa… Nem via você que ela gostava de outro homem, nem via que
a pobre da Florisa chorava por sua causa!
Casimiro zombou:
– Estou entendendo tudo. foi Tia Sabina quem lhe
ensinou este recado!
– Ora, Casimiro, não seja tolo! Eu sou amiga de
Florisa, devo muito favor a Tia Sabina, mas quando falo é por minha
conta. Só quero dizer uma coisa, que todo o mundo sabe, e que você
nem ao menos imagina. A Nana da velha Brasilina não é mais a que
você pensa… Ouviu?…
O Negro ficou impassível. Celina cuidou que se tinha
enganado:
– Que é isso? Será que não gosta mais da Nana?
Pois olhe, há bem um mês que ela está vivendo com um negociante
da Baixa… Dizem até que vai casar com ele, que é branco!
Nada no rosto de Casimiro. Máscara neutra. E Celina,
meio surpresa, pensando que se enganara, riu livremente:
– A bem dizer, já estão casados antes do
casamento!
– Bum… um… um… bum!…
Era o aviso dos tambores. Damiana, Daninha, Dalinda,
que tinham deixado a sala, tornavam, bulhentas:
– Casimiro! Casimiro!
– Acabou-se a conversa! Vamos dançar!
Maquinalmente o Negro voltou-se, marchou para elas, se
não para a porta, rodeado, seguido por elas, que lhe falavam a rir,
e atravessou a sala grande, saiu no terreiro, aonde todos voltavam.
Não tinha na mente imagem clara do que ouvira. Tudo lhe parecia
confuso e mau, e sentia o sangue a ferver-lhe no peito como nos
momentos de furor. Mas era menos fúria que surpresa, e apenas se
dava conta de inconcebível desamparo.
No terreiro, o regozijo dos outros lhe ignorava essa
angústia. Zeferino perguntou-lhe, amistoso:
– Então, Nhonhô? Vai ou não vai a dança do fogo?
Ele estacou. Sob a luz das candeias fumarentas
luzia-lhe o torso nu. Os braços pendiam inertes, e junto à mão
esquerda as borlas da faixa que o cingia, rosas vermelhas, eram duas
flores de sangue. Esquecera até que devia dançar… As palavras do
amigo, avivando a lembrança, atiçaram-lhe a vontade de escapar à
certeza que pungia, e buscar refúgio na dança. Perder-se,
afundar-se na acesa voragem, e sorriu a Zeferino ao dizer-lhe que
sim, criança magoada a quem o brinquedo oferecido apartava da pena
por que chorava…
Apartava-se acaso dessa pena? Não tanto. Queria ao
menos alhear-se dela pelo temor de senti-la presente. Vislumbrava
remédio na diversão que o pusesse fora de si. Alívio, delírio,
esquecimento, embora um instante.
– A dança do fogo! – bradou Zeferino.
Um murmúrio enternecido fluiu de todas as bocas. Os
mais pressurosos já pediam que se abrisse espaço, onde o pudessem
contemplar no bailado, que nenhum outro ousava, sobre brasas vivas.
Tia Sabina julgou necessário intervir:
– Assim não é possível, minha gente!
Fez ela mesma com que se dispusessem todos em roda, a
formarem um grande círculo de filas concêntricas, onde as mulheres
ficaram à frente. Ao meio do chão batido, Casimiro sozinho.
Seguindo o prelúdio, que os atabaques tangiam, ele
começou dançando no mesmo lugar. Dançava ereto, nas pontas dos pés,
a fronte inclinada, os olhos baixos, e os braços como duas asas mal
desprendidas para o intento do vôo… Depois, pela bordado círculo,
foi uma fuga fantasista. O movimento e a música traçavam por
imagens, logo desfeitas, o proêmio de um conto da floresta mágica…
Na mágica floresta o ardente amado corre em pós da
amada risonha, da amada que mais se nega, e se esconde, para Ter
maior o prazer de dar-se: os gestos desenham na trama da harmonia
sinuosa as negaças e o meneios daquele que busca, pressentidos,
iludidos, pela bela fugitiva.
Na mágica floresta o ardente amado detém-se para
escrutar o silêncio, o silêncio que foge. Seu instinto suspeita de
perigo que não sabe, criado longe, e que talvez se aproxima…
Suspeita, e receia pela moça que se oculta no mistério da
espessura.
Já o perigo está perto: é o fogo! O jogo abraça e
abrasa a mágica floresta, e infiltra-se, diviso, e voa, múltiplo,
e passa, fantástico. E o bramido, feito de tonos profundos, e
crepitações tumultuosas, engana os sentidos… Como se viesse das
entranhas da terra! Como se reboasse de toda parte!
Clama nos tambores – nos tambores! – o rúbido
bramido, como a reboar de toda parte. No meio do terreiro, vive o
terror com a surpresa: Casimiro dança sobre brasas vivas. É o
bailado que se faz remoinho, vertigem e alucinação, a unir no
mesmo símbolo a realidade do fogo e a dolente visão de amor…
O homem dança no meio da floresta, dentro do fogo,
que o separa: em torno, a multidão se teme por saber que o envolvem
malefícios iníquos; e olhando, e ouvindo, acompanha o quimérico
desespero em que o sente sozinho contra as forças punitivas do
destino…
Casimiro dança. Dança, arrebata-se ele mesmo na ilusória
representação para ver realizar-se o mundo que arranca aos arcanos
da magia sonora. Dança, procura a sombra imaginária que foge, e
que se lhe afigura a outra, humana e dileta, escolhida do seu
desejo. Dança e conhece agora, somente agora, que o feriu a malícia
de fados inimigos, enquanto sobre a púrpura de brasas, derramada no
terreiro, as imposições do ritmo, a que se encadeia, mais e mais o
exasperam, aumentando-lhe confusamente a impossibilidade de
livrar-se, do amor não, das forças odiosas e contrárias que o
impedem… A púrpura de brasas, já confundida no pó do chão, foi
apenas pretexto. Toda a sugestão deriva do jogo instável, o jogo
numeroso que os tambores lhe ensinam a bordar na trama de escuros
sentimentos. A mágica floresta é a sua alma, que arde, prisioneira
do próprio desespero. Mais e mais os desígnios da música se fazem
bravios; e mais o enleiam as flamas, flama ele mesmo, dispersa, una,
incoercível, infalível, que se lança, e se retrai, e se precipita
de novo, surpresa constante, renovada constantemente – até
perder-se na imobilidade silenciosa.
O clamor das vozes cobriu a última ressonância dos
atabaques. Zeferino gritou:
– Ah! Negro bom! Você dançou como dez!…
Casimiro, a quem já Tia Sabina enxugava o suor, que
lhe corria do rosto, das costas e do peito, parecia tranqüilo. Mas
logo, sem dizer palavra, atravessou o terreiro, lentamente, e
desapareceu no meio das árvores.
Ninguém mais teve notícia desse Negro.
XVI.
MESTIÇA
Vaga
reviva sonha
Na
plenitude noturna de teus olhos
A
insondável magia
Da
Afrodeia primária – a amante insone
–
Alma solar que o Sol tomou sozinha.
Revemo-la
por ti… Sombria irmã da Noite!
Repousa-lhe
a cabeça encantadora
Em
travesseiro de areias moles
–
Nas areias de onde lento o Nilo rola:
Suspende-se
alto o céu azul do leito
E
ela oferta estendido ao luminoso amante
O
imane corpo dormente.
Túrbida
imagem miragem vertigem!
–
Cerra-se o laço dos braços tenebrosos
Na
muda volúpia do conúbio divino
E
sobe no mistério das idades
O
eflúvio obscuro das florestas virgens
O
quente olor do seio promissório…
Na
plenitude escura de teus olhos
Revive
a graça ingênua e vária
As
mudas carícias da deusa sombria
E
o delírio de estranhos amavios
Que
se guardou na candidez antiga
Da
raça nua e sem pecados.
Mas
tu és só, glória do mundo! Glória!
Glória!
As sutis influências lunares
Pressentem
sentem a inata semente
Que
dorme intacta no teu ventre
–
Dom que será de outra sazão mais clara…
Para
o vale de teu corpo onduloso
Vieram
de ínvios extremos dois rios silenciosos
–
A corrente do Sul profunda e lenta
E
a do Norte caudal de mil torrentes…
(No
úmido vale onduloso
Sob
o espelho da água escura
Um
deus ignoto oculta um signo obscuro…)
Em
tua pele macia
Amanhece
um destino que promete
–
Promessa de ouro nova claridade
Menos
presente que suspeita…
De
tua pele dourada se evade
A
certeza da Noite de onde vieste!
Purpúrea
síntese promessa de unidade
Maravilhoso
instante entre dois mundos!
Promessa
– e coisa dada!
Aparência
esperada!
Flor
de magia a tua boca se desata
No
sorriso de desígnios profundos!
Forma
nova purpúreo vaso de promessas
Forma
gentil sombra purpúrea… Forma e sombra!
–
Ó tímida mensageira indecisa
No
indeciso limite de dois mundos
O
deus ignoto vela o segredo de teu sorriso.
Promessa
inefável! Mensagem flagrante!
(Da
invisa margem distante
–
da outra margem do Tempo
As
almas passam – insetos incertos…
Voam
revoam em redor da mesma flma
Incessantes
clamantes amantes!)
Quando
amor sopre a subitânea centelha
Para
abrasar-te sombria amada
–
O eleito irá perder-se em teu regaço
Atado
às lisas lianças de teus braços…
E
tombará sobre teus pés uma rosa vermelha
Flor
de sol flor de sangue – desfolhada.
|