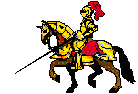|
marilialibrandi@uol.com.br
Todas as odisséias de
|
|||
|
in Jornal da Tarde
9/10/99 |
|||
| Duas obras recém-chegadas ao mercado iluminam as longas e
invariavelmente penosas viagens a que a escritora submeteu sua obra com
intenções catárticas e libertadoras
Existem aquelas que escrevem para nos fazer bem, mesmo que seja por meio de uma incursão pelo mal. Um de seus nomes é Clarice Lispector. E existem quelas que lêem o que esta escreveu, dialogam com ela, incorporam-na a seu discurso. São vozes femininas, ecos de mulheres escritoras e ensaístas. E o tema que se vai seguir é a relação entre a escrita e a mulher, a escrita e o mal, a escrita (o saber) como o fruto proibido que uma vez mordido nos lança no sem-fim dos questionamentos e porquês dos quais a literatura consegue nos oferecer um objeto verbal, uma poiesis. E a arte de Clarice é uma dessas bênçãos que de tempos em tempos vêm ao mundo para nos dizer uma(s) verdade(s). Inveja, medo, rejeição, admiração e paixão.
Sentimentos contraditórios e
Em 1978, descobriu Clarice, e um ano depois publicou Viver a Laranja,
ensaio poético que agora é editado no Brasil, no livro A
Hora de Clarice Lispector (tradução de Rachel Gutiérrez,
Exodus, 214 págs., R$ 20,00), e que inclui também os ensaios
“À luz de uma maçã” e “O verdadeiro autor”.
O livro de Helène interessa, e muito, às leitoras e leitores
do Brasil, porque é um canto de amor a Clarice e, ao mesmo tempo,
uma análise literária extremamente fina e percuciente.
Cixous não defende uma “escrita feminina”, porque ela sabe
que não há pura
E por que Clarice gera livros como o de Cixous? Porque Clarice é o arquétipo de Eva. Se naqueles tempos Eva tivesse uma máquina de escrever portátil, provavelmente falaria como Clarice falava, daí sua enorme pertinência e importância para uma outra história original do gênesis e dos gêneros. Vivemos num sistema discursivo binário, que opera por oposições:
E “viver a laranja” é refletir sobre tudo isto, sobre o fruto
nosso de cada dia:
Antes poeta do que crítica, a escrita de Cixous é circular e alusiva, por isso é preciso lê-la com calma e sem pré-conceitos. Sua voz do interior, do inconsciente, é também lisérgica e surrealista, porque tenta falar de fora dos cerceamentos. Politicamente correta, mas explicitamente incorreta frente às convenções do logos, do certinho, do bem-dito. Louca? “Santa loucura se o fora!.” Lendo-a penso que devemos tentar falar no feminino em busca de uma fala outra, capaz de abarcar e gerar uma outra e melhor humanidade. Ao invés de pensar a mulher como falha, falta, ausência, pensá-la como exuberância, êxtase, excesso, propõe Cixous, que inclui também a necessidade de uma reescrita feminina da psicanálise. E se a condição pós-moderna é descrita como morte do sujeito e fim da história - podemos encarar esse dado positivamente, como a falência de uma estrutura unívoca que domina a cena discursiva e todas as outras e tem se mostrado catastrófica. A poesia, a música, a Musa, são femininas, como a criação, gestação de uma obra, de um filho, de um projeto, de uma vida. Nosso desafio então é o de reinventar esse sujeito e essa história incluindo nela também a sujeita, de forma a acabar com a sujeição - o lugar da outra e do outro, diferentes na sua semelhança, em busca da alteridade, da outridade. No ensaio “O verdadeiro autor”, Cixous analisa a duplicidade que se estabelece entre a autora Clarice (que se apresenta entre parênteses) e o narrador Rodrigo S. M, de A Hora da Estrela. Por que a autoria precisa ficar entre parênteses para poder falar sem piedade de uma ínfima mas fundamental Macabéa? Ao mesmo tempo, por que é a mulher Clarice que se metamorfoseia em Rodrigo? A duplicidade mulher-homem vivida ao mesmo tempo na escrita libera uma outra fala, um outro tipo de hino à vida, mesmo que seja a vida de uma quase-nada, mas que brilha quando morre. Simultaneamente à “chegada” de Hélène Cixous ao Brasil, Yudith Rosenbaum publica As Metamorfoses do Mal - Uma Leitura de Clarice Lispector (Edusp/Fapesp, 184 págs., R$ 20,00), originalmente escrito como tese de doutorado em Teoria Literária na USP. E assim temos duas mulheres escrevendo sobre a Mulher Clarice: uma destacando sua clarividência, a outra, sua obscuridade. Enquanto Hélène analisa o bem que a obra de Clarice lhe despertou, Yudith se debruça sobre uma das faces do mal: o sadismo como força mobilizadora dos enredos de nossa autora. Curioso paralelismo: mal e bem, bem e mal. Nesse intervalo parece situar-se a obra de Clarice, nesse hiato, nesse paradoxo. Lugar do meio. Com o instrumental da psicanálise e da estilística,
Yudith analisa os romances Perto do Coração Selvagem e Paixão
Segundo GH, assim como uma série de contos. A metáfora que
sintetiza sua visada crítica é o conceito de “odisséia
negativa”: “viagem de retorno à pulsão primordial com passagem
inevitável pela ilha do mal.”
Por exemplo, a “insanidade” de Laura (personagem do conto “A imitação
da
Uma carta a ela atribuída foi publicada por Caio Fernando Abreu em O Estado de S. Paulo, em 1995, e confirma a tese de Yudith. Na carta, ela diz: “Para me adaptar ao que era inadaptável (...) cortei em mim a forma que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso cortei também a minha força. Ouça: respeite mesmo o que é ruim em você - respeite sobretudo o que imagina que é ruim em você - não copie uma pessoa ideal, copie você mesma - é esse seu único meio de viver.” Respeitar o que há de ruim em nós como condição de autenticidade. Fugir a essa “ruindade” é que pode ser a grande traição. Não ter mordido o fruto é que seria o pecado? E Deus disse: vá e coma a fruta mesmo se eu tiver dito o contrário. Contradiga-Me! Condição do diálogo com Deus. Para nascermos é preciso também uma expulsão, e o paraíso é também sinônimo de morte. Incentivar o demônio de cada um dá medo porque temos medo do caos, mas se o calamos ele cresce como o monstro verde. É preciso verbalizá-lo, expulsá-lo contra todas as conveniências. Manifesto. Púlpito. Gorjeio. Condição do Canto, “porque o instante existe e minha vida não está completa”. Não reconhecer esses sentimentos impede-nos também de vivenciar os outros, e Clarice, completa Yudith, “faz parte daquela espécie incômoda de escritores que denunciam a face suja e perversa da polidez social”. Por isso, penso que a incursão pelo mal é também
esclarecimento do bem. É preciso ser invadido pela chama da vida,
mesmo que chama e fogo lembrem inferno, mas também magma incandescente,
condição também da fênix. De modo que,
após a leitura destes dois livros, o que fica é a influência
benéfica de Clarice que se irradia numa obra poética como
a de Cixous e num tratado ensaístico como o de Yudith. Criação
engendrando criação, favorecendo a passagem do luto à
criação, como testemunha o trabalho de Yudith, dedicado à
memória de João Luiz Machado Lafetá. A ele é
dedicado o livro; a elas, é dedicado o livro de Cixous. A nós,
portanto, cabe apreciar o sabor desses frutos.
Marília Librandi Rocha é mestre e doutoranda em Teoria
Literária (USP)
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|