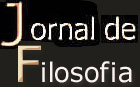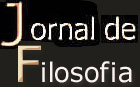|
De
“NOCTURNIDADE”
Outra
madrugada, outra palavra, outras águas
que,
ora violentas, ora serenas, ora
sedentas,
como inconstantes graves amantes
descem
aos olhos de Laura a violá-los, outros
silêncios,
outros lumes, outros medos que ora
glaciais,
ora cálidos, ora instáveis,
entre
ruínas, delírios e desafios
lançam
sobre os olhos a ténue gaze
que
os vai delindo e a escurecê-los ousam,
sufocando-lhes,
impiedosa, a amplidão
do
verde no plaino áspero do tempo, somente os
mudarão
em vasos de ouro eterno, acendendo
em
Francesco outra maresia, nova seiva,
nova
lira, outra ceifa, outra rosa do dia.
·
Leva-lhe
as palavras o pensamento, posto
nos
vitrais sangrentos da catedral, quando
os
lábios de Laura rezam. Na solene
fixidez
do silêncio, entre as pedras erectas,
vindas
do sol, as orações de Laura ateiam
o
incêndio, devoram o coração
de
Francesco. Dentro, em algum canto do coro,
cantam
as musas. Sob o ruído atroante
das
naves ao céu, na solene fixidez
do
silêncio, vão as palavras fugindo,
linhas
de luz e noite no novo vitral
de
cores lunares, desenhado nas mãos
rígidas
do poeta. O canto poderoso
repete
a eterna impiedade do amor.
·
Muitas
cidades viu pela última vez, mares
que
sulcou, sentimentos que sentiu,
jardins
onde esteve, bosques onde sonhou,
amores
que recorda, ruas que pisou,
poemas
que o possuíram, neves onde
se
corroeu, corpos de que foi parte, céus
que
desabaram, dores que sofreu, palavras
jamais
lembradas, alegrias que perdeu
–
fragmentos de vidas irrepetíveis, como
esses
segundos que fogem quando fulgem
os
olhos de Laura. Só o trabalho do corpo
rompe
o hímen do inconsolável tempo perdido.
Reaprende
Francesco a sede do instante, a vida
rápida
na memória dos olhos de Laura.
·
Em
honor de Laura calaram-se os tambores,
ecos
da alegria juvenil nas colinas
plácidas
da tarde. Só o silêncio surge,
emboscado
na última floração das noites.
Lamenta
a praça, branca de nada, onde Laura,
a
fascinante, se dispersou como as pombas,
as
palavras, as sombras. Fértil silêncio
que
traz o condão de pressentir, derradeira,
a
visão que lhe corrige a desesperança.
Na
sua mão e no papel tem o poder
de
ressuscitar o ido esplendor do tempo,
a
aura imóvel do sol, onde a palavra pára
e
reconstrói a fala dos olhos de Laura,
prodígio
da dor na funda eternidade.
·
Estão
cerrados todos os jardins
onde
asas voaram e se romperam
as
pedras. Como esquecer as estrelas
tranquilas
no verão e a ciência
exacta
das flores pintadas de ar?
Estão
cerrados todos os jardins,
máscaras
de fome, escarlates de treva.
Que
tempo esvoaça em Francesco, morto
pelo
lento longo suor das noites?
Estão
cerrados todos os jardins
em
que Laura foi timbre e flor sem pálpebras.
Mudada
em terra, a água morrerá,
como
o amor cumprido se muda em luto.
Estão
cerrados todos os jardins.
De
“DECOMPOSIÇÃO – O CORPO”
AS
LÁGRIMAS
Exaltemos
as lágrimas. Na pele das veias,
bom
dia, águas. Gratidão ao rosto, às cores,
ao
sulco nos olhos. Porquê este ardor, este
temor
da erva pisada? Adormecem comigo,
meigas
fábricas de quietude e solidão
no
calmo azul branco da sua breve cor.
Que
longe se vão no ar amargo, sob o ímpeto
delirante
de as transformar em leis extintas,
ironias
ou júbilos. Rolem ou finjam
incansáveis
trabalhos ou dores, assim
conspiram
em outras portas, outros mistérios.
Perco-as
entre conversas, o sono, o amor.
Aos
olhos desertos sua ausência os desgasta.
Louvemos
nas lágrimas o seu fulgor vão.
·
AS
LÁGRIMAS – II
O
que serão depois? Uma linha suspensa
na
dobra das cortinas? Uma faca acesa
sobre
a pele da cal? Ou uma deslocação
do
ar nas telhas abertas? E verão nascer
o
sol nas fontes secas das colinas? Não
já
nos meus olhos estremecerão ao vento,
nem
ao ritmo do corpo. Voltam à medula
dos
deuses, à amável alegria da água
fresca,
doce e pura, à imperecível água
inicial,
a que nunca se muda em terra?
Como
sobreviverão depois? No ruído
das
cores? Em reflexos brancos nos retratos
dos
mortos? Em espantos tecidos de fumos?
Ah,
minhas lágrimas, ficais. Vivas de luz.
De
“MAR
DE QUE FUTURO”
Só
de restos se consagra o tempo, força
cerrada
na inutilidade destas
cores
campestres, quando o sol em Novembro
escurece
os sobreiros. Só de restos me
espera
a cerimónia de viver,
trânsito
e transigência do silêncio,
ocultado
no meu corpo. Só de restos
o
trespassa o tempo, máscara e manto. Morro
muito
antes da morte, sem saber se os anjos
foram
gaivotas hirtas no piedoso
musgos
dos rios ou se hão-de ser maçãs
ou
ciência, loendros ou lembrança,
inocentes,
lúcidos sonos ou oblata
de
seda, a deus cedida, em pagamento
da
paz. Só do que chega ao fim, se corrompe
e
apodrece, se imagina o princípio,
a
majestade das coisas, o silêncio
irrevelado
que o corpo desconhece.
·
Em
nenhuma noite os mortos se demoram,
mas
apropriam-se da sede do estio
nas
tardes calmas e traçam a geometria
subtil
dos ossos sobre a extática terra,
na
velocidade com que a luz se extingue,
nos
ramos apodrecidos das figueiras,
insuflados
nas lavras, sorvendo o mel,
entontecidos,
sonâmbulos, assimétricos.
Têm
as suas eiras negras, os seus
cavalos
enigmáticos, as suas
danças
brancas da morte e um espanto atento
pela
lepra que tolhe a voz dos vivos. Nem
sempre
ressurgem, mas pelas manhãs mais quentes
do
verão, no chio das roldanas dos poços,
o
grito prolonga-se até ao limite
da
respiração do ar. Sabemos, porém,
que
voltarão para ocuparem, por breves
segundos,
o lento declínio do sol
nas
planícies ceifadas. E são, então,
transparentes,
como o estrondo do silêncio.
·
Como
será estar vivo, se imagino
o
que foi este céu, estes ventos, estas
montanhas
e a luz que nos olhos tive?
Se
imagino o amanhã, a mesma ferida
de
ser, a mesma cura inútil passando,
permanecendo,
ora de riso, ora de ira,
a
mesma explosão, o mesmo desespero.
Se
tudo jamais será adquirido,
como
me imagino vivo, confiante
e
atónito, fermentado pelos séculos,
espécie
de caça que o tempo sempre abate,
hostil,
angustiado ou indiferente,
pátria
do presente que o coração
fóssil
não pode reter? Como estarei
vivo
se, desde o princípio, não vive
o
que jamais vi, vejo ou nunca verei?
·
Como
realiza o corpo este exercício
da
queda no súbito conhecimento
do
espanto, quando os olhos estão vencidos,
cerrados
pela transparência e pela luz
ofuscante
da alva? À medida que o corpo
seca
e se aplacam os seus, outrora, amáveis
dons,
se ensombram os ossos, míseras as mãos
emagrecidas
e se desnuda a carne
no
fundo fôlego das águas, aumenta
o
assombro da claridade. Só a vida
gerou
o tempo, eis que ausente, ao resplendor
inesperado
da luz descida. Onde vai
o
humilde corpo, se corpo resta ou se outro,
receber
a miraculosa mudança
de
nada existir a não ser o profundo
bando
do grito terrível de todos
os
mortos? Ah, que estupor sela os músculos,
enrijece
as unhas e aspira a voz,
resfria
o suor e nos conduz, inertes
e
cegos, ao núcleo da luz deslumbrante?
Ó
mar de que futuro, rumor volúvel,
sopro
claro, envolve-nos de compaixão!
De
“DECOMPOSIÇÃO
– A CASA”
A
IDADE
Ao
princípio, era a doença de ser, pura e simples
exaltação
das trevas de que a casa era a luz do mundo.
Ao
princípio, estava o amor oculto no secreto fio
da
memória do mundo. Ao princípio, era o insondável
desconhecido,
aberto nas mãos maternais, sortilégio
do
mundo. Ao princípio, vinha o silêncio como ponto
de
encontro do nada do mundo. Ao princípio, chegava
a
dor da pedra opressa nos corações, sublime prodígio
do
mundo. Ao princípio, revelava-se o inominável,
o
imóvel, o informe, a intimidade temida do mundo.
Ao
princípio, clamava-se a concórdia e a piedade,
afirmação
absoluta da constância do mundo.
Ao
princípio, era o calor e a paz. Depois, a casa
abriu-se
à terra fértil, a madre terra, a medonha terra.
·
OS
OBJECTOS NA MESA – III
Por
aqui, alguém passou. O som da rádio
ou
um peixe roxo que lustrou de sangue
os
resíduos de tudo. Alguém que não era
nem
palavra, nem cor, nem irreal, informe
coisa.
Talvez um vento ou um corpo doente,
sabe-se
lá se um visionário orador, um deus
do
amor ou, porque não? um crime, uma garganta,
uma
lava de treva, uma lua violácea, um baixo-
-ventre
morto, enfim, uma praga ou um beijo.
Por
aqui alguém (alguma coisa) passou de noite
ou
verde, noção física ou matemática, abcesso
líquido,
eventualmente, um antepassado vivo
há
centenas de anos. O certo é que passou.
E
deu às coisas a sua metade que queima.
De
“REGRESSO
DE ORFEU”
Contemplai
o homem chamado orfeu
que
no escuro campo queimou a luz
e
amanhece de novo repetido
na
lavra da cor, à mesa rasa.
Aturdido
na morte, chorou a perda
do
frágil coração dos homens,
no
halo das águas. E, esgotado,
ao
frio relâmpago dos espelhos,
pelo
sulco do risco das aves nos céus
reconhece
o estranho trânsito da luz.
Contemplai
o homem que o nome perdeu
e
a si se devora, fragmento de papel,
na
chama inquieta de uma lua negra,
perfeito
arco de pó em cada momento
eco
do inútil, boca do efémero.
·
Ó
se o meu clamor às altas serras,
às
verdes estrelas tanto subisse,
ó
se o meu clamor nos baixos vales,
à
raiz das pedras aí se fundasse,
ó
se o meu clamor, aqui agreste,
além
temente, singelo fosse,
ó
se o meu clamor, jamais débil,
sempre
o vento o acolhesse,
ó
se o meu clamor de rude grito,
por
todas as partes se repartisse,
ó
se o meu clamor de fogo errante,
neste
ser terra a alma acendesse,
mas
tudo o que repousa em si se move
e
nada permanece como parece.
·
Exclamam
contra mim todas as fulgurações
dos
peixes, o brilho fugaz dos répteis, as hastes
brancas
dos animais da terra e os fortes aromas
dos
frutos e os ninhos das águias nas altas
montanhas.
Exclamam contra mim a agonia
da
voz por romper nos olhos das mulheres em
fúria
e a massa sufocante dos claros dias
e
o silvo estrangulado no oco das pedras.
Exclamam
contra mim aquilo que em mim está
doente,
o último sopro de antes de deixar
de
ser, todas as metamorfoses dos meus ossos
e
a insone obsessão de ser a minha vontade.
Exclama
contra mim a seca e redonda paz
de
me ter contido na palavra homem e na busca
da
verdade perpetuamente moribunda.
Exclamam
contra mim os lugares do mundo onde
me
guardei dos juízos dos deuses e de todos
os
senhores da cólera e dos justos juízes.
Exclamam
contra mim as ruínas que ainda
não
existem, a combustão das aves no fogo
das
águas transformadas por todas as astúcias.
Exclamam
contra mim o rio onde flutuo
e
a intensa névoa que transfigura as árvores.
Exclamam
contra mim as minhas mãos mutiladas
e
os convulsos tremores da minha língua nos dentes.
Exclamam
contra mim as vozes cruas dos anjos
que
apartam os mortos e as suas nocturnas máscaras.
Que
venha sobre mim esse unânime grito
agora
que a vida se detem no que imagino
e
que ele me possua e me corrompa.
·
De
“ODES
DE MITILENE”
Em
toda a parte a vejo, quando o dia
esmorece
ou se levanta a luz, meus olhos
a
seguem, fontes que secam, no seu regresso.
Não
me pergunta Safo se nas fragas da ilha
estão
calmas as aves, se nas escarpas
agonizam
os cães da praia, se o beijo
das
abelhas amadurece os figos ou
se
cresce em mim a dolor da ausência.
Vem
longe o meio-dia. Ela me oferece
o
abismo e destece a sombra
das
horas sedosas, das águas vazias
de
quem acha outro o mundo, fechado
o
desejo. Fica o tempo solene, crivo
do
verão, na mais longínqua altura
se
fia a casa que urdi, são de luz
e
trevas as bodas crispadas, são de flechas
de
sol, degraus de ondas, ciências de sal,
sangue
e mercê, substância e peso,
prazer
de todos os caminhos pelo mar
e
da morte. Tudo em mim cai e, ante
meus
olhos, Safo me inventa a vida.
·
Vai-se
a velida pelo triunfal vento,
às
irrepetíveis águas das nocturnas marés,
vai-se,
assim, experiente lua de ébrios
dias,
o liso ventre respirando o sopro
tépido
das folhas, tal um líquen de sentidos
deixado
a arder, ruído lento, nos meus olhos
doentes.
Mas, com ela, na veia das mãos,
vai,
fluxo de silêncio, a minha voz
que
nas suas pernas se perde e pelos braços
às
mais altas nuvens vermelhas ascende,
onde
choram os pássaros. Safo assim vai,
impetuosa
corrente de carmim, por entre
os
freixos suspirando, pomba escrava
dos
aromas, rescendendo, suas coxas
de
areia na riba das águas banhando,
as
unhas de sal a coroa das dunas
dispondo,
evadida de si e da sua origem,
tardada
ao encontro do espanto
que
lhe dáa ver a saudade fria
no
meu corpo demorada. Nesta solidão
que
me gasta, assim vai a velida,
deusa
azul, trágico marfim, oscilando
ao
ritmo de um eco de treva, subitamente
abrasado.
É Safo a luz que se inventa
e
ilumina a sua fonte, irradiante
relâmpago
sobre as húmidas poeiras,
fulgor
que me cria, quente vento,
raiz
solana.
·
Procura,
alma, a água que te transporte
ao
revolto ar de que nasceste. No sereno
pouco
ou na mansa luz, não correm os dias
iguais,
a teu mando, nem das mudas coisas
emana
o sopro divino que, número perfeito,
a
nós nos tome.
É
Safo a vida, este efémero instante
em
que a agonia eterna, eterna se deslumbra.
É
Safo o desejo, esta firme vontade
que
nos muda o corpo, ora tomado, ora
liberto,
jamais dissonante ou cativo.
Por
estes campos amarelos, estas praias vazas,
este
sol nenhum que nos cinzela as ancas,
a
harmonia da pele e o rumor mudo da palavra,
arde,
alma, ar, procura a tua medida.
·
O
grande bico do deus, a sua escura pálpebra
nos
contemplam, Safo, na insone madrugada.
Trememos
à sua chegada. Mas, sob os sombrios
loureiros,
com ternos olhos vemos os nossos
corpos
despedirem-se da noite sagrada
em
que tiveram a sua parte nas águas frescas
dos
rios e nas vesperinas rosas do poente.
E
aos deuses que mentem, à última cinza
das
suas asas, opomos o rigor e o lume,
o
vivo desejo com que, ilimitados, geramos
a
vida e nela exercemos o ansiado poder
destruidor.
Está já pronto outro vinho,
outra
maçã rubra. Sobre a mesa de pedra
fria,
fulguram os fulvos pães e as brônzeas
taças.
Deslumbrante é o vento que recebemos
no
rosto, pura transparência que nos oferece
o
seio e em nós procura o harmonioso cansaço,
o
coração final.
De
“LAMENTAÇÃO
EM CÁUCASO”
Vem
e diz. Que enorme casa resplandece
de
bronze, que vento destrói as belas
lavouras,
quem entende a fala das perdizes,
ungidas
da luz matinal.
Vem
e diz. Por um tempo de nada, a juventude
banha
a nudez do rosto e nos deleita
dos
amáveis dons da idade. Em minha casa amada,
sou
uma tâmara redonda e madura.
Vem
e diz. Quem nos ensina o caminho
da
cidade, que pão amassado é arma excelente,
pendular
e lenta, da agonia, que distância
nos
isola dos homens de fala dotados.
Vem
e diz. Não invejo os deuses nem as suas
acções,
não mudo o pranto em louvor, nem
das
brisas oceânicas provém o passo
da
fortuna, areia fugida à contagem.
Vem
e diz. Que sombra de sonho é o
homem,
o que de muitos veio para ser único,
o
que, ornado de ouro e alado, em dez
medidas
de água sucumbe, em bolor se devora.
·
Viveste.
São as rosas que acabam e as fontes
que
secam. Viveste. Saem os vermes das árvores.
A
urze embranquece. Só a névoa se debruça
nas
casas cerradas. Viveste. Deixou de
ouvir-se
o bolor das águas a tomar a pele das
rãs.
Não crepita nos lábios da amada o vinho
amável.
Viveste. Por toda a parte as coisas
são
menos exactas. Oculta-se no relâmpago
a
face fortuita das aves. Arqueia-se o sol
nas
rudes ravinas. Viveste. Aonde se não pode
voltar
te chamam. A voz dócil é agora
desolada,
ácida luz póstuma. Viveste. Entre
cada
fractura das imagens percebidas, a respiração,
única
raiz do sono. Viveste. Da terra e do ar,
da
medula das palavras, da potência da memória,
do
efémero amor do efémero, da imprevista cinza
em
que mudou o brando lume. Viveste. O tempo
doeu.
Fonte primitiva que se abandona, a vida
é
perda. Só a presença existe, finita e una,
imóvel.
Viveste. O ócio dos deuses, reprodução
da
infância, visão lógica do horizonte oculto.
Longa
espera. Profundo, negro arbusto de formigas.
Superficial
música obscura na asa das abelhas.
Viveste.
Exílio frágil na idade, trágico
êxtase.
No cúmplice desconhecido poder
da
terra. Guardião solitário do puro e do inútil.
Viveste.
Como um fruto que não chega. Ou um
vento
fresco. Saudação das águas ausentes
do
peso. Viveste. São os deuses negros e sem
esforço.
Viveste. Para além do que se perde.
Das
amoras, substância final do sangue, único
cheiro.
Para além da verdade, último sinal
do
que se desconhece. Viveste. Sempre o mel
foi
mais doce do que os serenos figos. Sempre
às
coisas outras se sucederam, sombras do
outono,
consumo da energia. Viveste. Como se no
átrio
das casas os convidados ausentes
te
esperassem, imagem evocada. Ou no fim da
memória
sempre a manhã fosse o futuro
e
o princípio. Viveste. Da tragédia dos deuses.
No
canto imutável das sempre mesmas vozes.
No
esperar vir-a-ser. Na paciência dos olhos.
Na
herança do destino. No movimento ritmado
das
cores do fogo. Viveste. Todas as perguntas
se
reacendem agora na última forma do amor,
a
dor, a boca branca, a palma vazia da mão.
De
“ULISSES
E NAUSICA”
Quando
Nausica se move, um barco de luminosa
madeira
se edifica no tempo. Como um odor da
terra
nocturna, ardor ou enigma, toda a ausência
é
um corpo nascente. Quando Nausica se move,
um
frágil búzio cicia nos colares dos seus
braços,
entoa o mar vozes profundas da sombra,
é
o fogo negro. Em Nausica vive o excesso,
o
vinho cintilante, a plenitude da pele na
velhice
do tempo. Ó erro de ver, permanece nos
meus
olhos, imagem do sonho, única árvore do vazio.
·
Pelos
campos de cevada,
sob
o claro cendal
que
o corpo de Nausica
cobre,
abre-se a sombra
da
terra, ao acaso da alba.
Precária,
virá a tarde
nas
coxas dos cavalos,
quando
o vento for
presságio
do olho dos
deuses,
sobre Nausica,
a
da amável fala.
Paciente,
a noite cala
o
rumor dos pomares.
Sob
o claro cendal,
o
ágil corpo de Nausica
é
ouro de asa, casa
descerrada,
mito de
morte
que passa e arde
ao
acaso da alma.
·
Prolonga-se
a cor. Que sempre ela vibra na
extensão
do corpo ou na liberdade da voz,
por
sobre os numerosos frutos das ceifas
começadas.
De bronze ou marinha púrpura se
mudam,
nos teus ombros, os doces cabelos.
Deixa
ruínas o mar nas tuas longas pernas,
anteriores
ao sol. Tudo começa em ti, augúrio
do
nada centro do mundo, nudíssimo olhar,
maior
do que o tempo no acre sopro desta
solidão
a que me arrojam. Tudo, pelos meus
sentidos,
se mede. Só essa medida é a verdade,
como
exílio, peso ou lua, sede de orvalho,
oculta
na luz ou divina úlcera do desejo.
És
o que em mim se transforma, consciência
do
sonho, erro, secura, lamento ou palavra,
fogo
carente na desarmonia das águas, cor
que
nos teus seios deiscentes se não esgota.
Possuo
o futuro – só a imagem não mente.
Ah,
Nausica, meu tacto errante, desenhador
dos
deuses, de que astúcias se faz o pensamento?
De
“ESTÁTUA
DE SAL”
Tens
fome, meu louco.
Orgulha-te
da alma
que
ninguém te oferendou.
Tens
frio, meu louco.
Brame
na ponta do braço
o
pássaro imaginado
que
em ti emigrou.
Tens
sonho, meu louco.
Escreve
sentenças. Ri
das
moscas. Fala do silêncio
que
em ti se inundou.
Tens
ódio, meu louco.
Ambigua
o olhar
que
ninguém te embruxou.
|