Os homens da gráfica mandaram dizer: “Complete as 400 páginas, não faremos acréscimos”.
Em sendo assim, sem acréscimos, conto-lhes, direto da Biblioteca do presidiário Djalma
Ribeiro Cavalcante, no Carandiru (há séculos demolido), de como o poeta Hildeberto Barbosa
Filho escapou da fogueira do monge cego, Guilherme de Burgos, depois que este
tentara “assar” o suposto heresiarca Saramago, salvo pelo senhor Coronel.
Com a palavra o senhor Bibliotecário:
O monge não se conformava com a derrota, antes certo levaria Saramago à fogueira, com
base no “Evangelho segundo Jesus Cristo”. O senhor Coronel ainda zombou que “Evangelho”
inteiro, de Saramago, fora escrito tão somente para ofertar, secreto, “a quem sabe ler”,
o poema que ele recitara, capítulo anterior, dos passarinhos de Tomé”.
Pelo sim, pelo não, lenha seca à disposição, o monge não deu trégua. Informou que agora
seria a vez do poeta que pecara contra a Vida, o dom da Vida, o prêmio da Vida que, segundo
ele, não pertenceria a quem está vivo, mas a Deus — “não cai uma folha, nem um cabelo...”.
— Senhor Hildeberto (com as qualificações de praxe), vossa excelência confirma a autoria
desta infâmia contra Vida? Aliás, vossa excelência não precisa perder tempo com qualquer
defesa, uma vez que, poucos dias após este texto infame, publicou outro garantindo
que não cria em nada, monges e ministros da Palavra, inclusos. Sua pena é a fogueira!
Silêncio absoluto. Algum pranto, afinal os amigos do poeta, todos presentes. O medo! Sim,
medo total. Quem seria louco para apoiá-lo, ao risco de cumplicidade?!
— Um instante, senhor monge Jorge! — era o Profeta, o Camundo, “pareceiro” do senhor
Coronel, que nesta mesma Biblioteca (a minha modesta cela), num lance de grande audácia,
defendera o tio do poeta Jorge Tufic, salvando-o do fogo eterno, episódio Ma Fi Allah!,
neste livro, página 146.
— ?
— Senhor monge, o Coronel me garantiu que o poeta Hildeberto é inocente, no mesmo grau
de santo, tanto quanto o Saramago.
— Senhor Camundo, o acusado não renegou os escritos, nem os da morte, nem os do increu.
Onde está o senhor Coronel? Vamos ouvi-lo, para que não me acusem de arbitrariedade.
O senhor Coronel saíra, sem que eu visse; fora ao pátio e já retornava com uma braçada de
rolos. Rolos? Isto mesmo, foi desdobrando-os e distribuindo aos presentes. Eram pergaminhos,
em couro de bode, que o poeta Virgílio Maia os fizera, justo a tentar salvar o amigo,
dele também, Hildeberto. Ganhei o meu evidentemente, todos ganhamos. Não foi dito
quantos bodes mataram para tantos panfletos, aliás, “plaquetes”, assim me corrigiram.
Evidente, muito bom tivessem trazido algumas “mantas de Tauá, salgadas e temperadas”,
a aproveitar o braseiro, na hipótese de ninguém ir ao fogo. Certamente recusaríamos
churrasco de bode gordo do Tauá, em meio ao fumacê de algum cristão. Assado, por mais
herege que fosse.
O Coronel pegou a plaquete dele, com o autógrafo do outro poeta, Virgílio Maia, fez as
reverências de praxe, e recitou, no tom, na clave, no trom, tal
qual sabe fazer, disto sabemos que ele o sabe:
|
Hildeberto Barbosa Filho
(Pensamentos provisórios)
Fazer o que?
Meu cavalo Baudelaire morreu.
Meu avô morreu, minha irmã
morreu,
minha mãe morreu,
[...]
meu pai morreu; morreram
meus primos, meus tios,
meus amigos.
Morreu a hortênsia mais rara
de meu jardim. Morreu meu jardim.
Morreu
[...] [...]
meu muro, meu oitao, minha sombra
debaixo do abacateiro, meu pé de acerola,
minha glória de poeta menor
e de autor provinciano.
Morreu
[...]
o melhor livro que li.
Morreu o mágico silêncio
que se desenvolve no esquecimento
de minha biblioteca. Morreu
a minha biblioteca. Morreu
[...]
meu desejo de viajar, de acumular
qualquer bem que não seja
a gratuidade de existir.
Morreu
o meu velho e pegajoso passado.
E com ele aqueles dias tristes
que ainda me doem, a pluma
de um olhar que se perdeu
na bruma da noite, uma solerte carícia
feita no tempo
dos minutos imaculados.
[...]
Morreu o amor perfeito. Morreu
a tirania do juiz, a alergia do padre,
a farmacopeia dos inocentes,
tudo que parecia viver na minha cidade.
Morreu minha cidade.
E morreu completamente. Morreu
a minha voz,
[...] [...]
a minha fala,
o meu pensamento,
a minha fantasia.
Meu verso também
morreu.
Morreu o meu poema.
Todas as letras de cada palavra
morreram.
O túmulo da linguagem
[...] [...]
morreu.
Morreu a linguagem.
Morreu o homem.
Morreu sua memória,
sua vergonha,
sua melancolia.
[...] [...] [...]
|
Uma salva de não ter tamanho! Muitos disseram que, poema tão bonito, quem o fez não
poderia ir para a fogueira. O senhor monge, pasmem!, concordou quanto à beleza, elogiou
também o vigor/voz do senhor Coronel, que nem parecia um ancião bstante “sofrido” nestes
dez mil anos do Século Cem, de Ésquilo.
Reclamaram, porém, que o original do Facebook não trazia nenhuma reticência, nem colchetes.
O Profeta comentou que o senhor Coronel o recitara como se
um salmo, um psalmo, de morte, é certo, mas um salmo, com as “selás”
de marcação, as pausas, Música & Poesia — e suas pausas.
— “Selá”, senhor Profeta, o que é isto? — indaguei.
O Profeta contou, que no tempo do senhor Coronel na Cidade da
Bahia, vários poetas reuniam-se no Ondina Apart Hotel, no saguão
da piscina para recitar, aos berros, aos peixes, às águas e às
aves dos céus, dentre eles, presentes em minha modesta cela
deste Carandiru há séculos demolido, os poetas Cajazeiras Ramos,
Aleilton Fonseca, Gláucia Lemos e outros que não lembrava agora.
Contou que numa daquelas reuniões, o poeta Aleilton Fonseca, que
preparava doutorado sobre Mário de Andrade, levara “Meditação
sobre o Tietê”, um poema longo, imenso, sem qualquer pausa,
laudas e laudas, o senhor Coronel pediu para ver e, imediato
abriu o “bocão” para cima do poema, que jamais vira, e o recitou
como se fora o “Navio”, de que ele diz saber todos os pontos e
as vírgulas.
— Naquele poema do tal Mario de Andrade, foi quando eu ouvi a
primeira vez a palavra Selá, Selah, coisa assim, que o se nhor
Coronel explicou que só poderia ser aplicada em poemas de
qualidade, dos Salmos para cima. Aliás, do mesmo nível dos
Salmos, retificou, com medo do monge que já o olhava de viés.
— Assim com três pontinhos, senhor Profeta? — perguntei.
— Não são três pontinhos, senhor Bibliotecário Djalma, mas um
caractere único, formado por três pontinhos, porém digitado e
impresso de uma só vez.
— De uma só vez? Como assim?
— O Coronel quem ensinou, senhor Bibliotecário! Manter a tecla
“Num-Lock” pressionada; clicar “Alt” e, ao mesmo tempo, os
algarismos 0133: pronto, a reticência surgirá na tela, assim, ó:
... Nada a ver com dois, três ou vários pontinhos seguidos.
— Senhor Profeta — perguntei — no pergaminho do couro de bode,
aliás, na plaquete finamente elaborada pelo poeta Virgílio,
nalgumas passagens, constam duas selás?
— Sim, meu caro Bibliotecário, para sinalizar, tal como na
Música dos Mestres, uma pausa dupla...
— Colocaram três selás no final, por quê?
— Ora, senhor Bibliotecário, a pausa maior, aquele vergar de
espinhaço do senhor maestro, igualzinho, assim nos ensinou, na
Cidade da Bahia, o senhor Coronel. Aplausos! Esses poetas e
maestros não pensam noutra coisa. Aplausos! Preferem dormir com
fome, a perderem um aplauso!
O senhor monge cego mostrou-se bastante interessado na
“tecnologia”. Ganhada a explicação, gratuita, inclusive dos
selás duplas e triplas, arremeteu:
— Senhor Bibliotecário Djalma Ribeiro Cavalcante, vários
acusados para julgar e justiçar, não podemos perder tempo.
Mande, por seu favor, dominar o herege, metam-no na camisa de
força e, imediato na fogueira. Temos lenha suficiente?
— Um instante, senhor monge Jorge! — Falou o Coronel.
— ?
— Quando o poeta Hildeberto Barbosa Filho escreveu este poema
tão belo? — Por favor, nos esclareça, senhor monge Jorge de
Burgos, por favor.
— Primeiro, senhor Coronel, isto não é poema; pelo contrário, um
insulto contra a Vida que Deus nos concede enquanto Ele servido
for. Segundo, o acusado não tem mais nome, perdido que foi com a
perda da cidadania perante a Santa Madre Igreja... Ah, a data?,
vamos conferir!
— Senhor monge Jorge, no meu tempo de jovem, há muitos e muitos
séculos, no meu emprego na Metalúrgica Hispano, ganhei uma régua
de cálculo circular; de um lado, os cálculos; do outro, um
calendário perpétuo.
— ?
— Pronto, senhor monge, aqui está: 7.4.2023, sexta-feira.
— O que tem a ver, senhor Coronel?! A blasfêmia independe de
datas. Aliás, numa data sagrada, ganhará os agravantes! — falou
o monge, mas a voz já não parecia tão firme.
O senhor Coronel puxou da algibeira um papelucho, com a data da
publicação, no “Face”, naquele longínquo 2023. “O homem
prevenido é outra coisa”, disse ele:
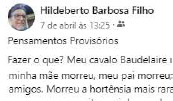
A mãe do senhor Coronel (ah, mulher “atrevida” — no bom
sentido):
— Senhor monge, era a Sexta-Feira Santa... rezei não sei quantos
rosários pela conversão deste meu filho..., sim, a morte do
Cristo!
— Minha conversão, senhora minha mãe?, por favor, acabe com
is...
Nem deu tempo!
O monge desmaiara, vaaápo no chão. Chamaram o doutor
Varela, médico deste presídio para acudir o “defunto”.
Antes porém, o espelhinho que o senhor Capitão ganhara no senhor
Coronel, a ver se o “defunto” ainda respirava —, rápido e
ligeiro (poema NÃO É AQUI NÃO, neste livro, página 118):
— Respira, sim, o espelho embaciou, ainda “veve”. Chamem o
doutor! Urgente!
Doutor coisa nenhuma!
Séculos antes, a senhora mãe do senhor Coronel, antiga parteira
lá nas brenhas do sertão, já se acercara do monge, aplicando-lhe
nas têmporas os sais de praxe, e, com uma colherinha das
menores, alguma gotas do vinho das paridas.
Transformação absoluta, o senhor monge “ressurgiu”,
“ressuscitou”...
De joelhos, porém, as mãos postas; abriu-as para dizer:
— Saibam todos! Em nome do Sancto Officio, o senhor Hildeberto é
santo. Na Sexta-feira do Cristo, ele cantou a morte, mas era
Vida. — E completou:
— Senhor Coronel, faça-nos o favor,
por seu distinto favor e obséquio, recite-o novamente, com maior
força nas Selás! Deveras, senhor Bibliotecário, quando poeta
Hildeberto Barbosa Filho abriu o belíssimo poema “Morte que é
Vida” com a expressão “Fazer o que?”, primeiro verso, ele já
sabia o que.
Sim, o poeta Hildeberto também
recitou. E todos os increus ali presentes encheram a boca de
Vida, ainda que todos mortos no Século Cem, de Ésquilo.
*****