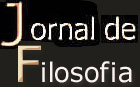Endereço postal, expediente e
equipe

|
.
|
Floriano Martins
<florianomartins@rapix.com.br>

Floriano
Martins (Fortaleza, 1957). Poeta, editor, ensaísta e
tradutor. Tem se dedicado, em particular, ao estudo da
literatura hispano-americana, sobretudo no que diz respeito à
poesia. Foi editor do jornal Resto do Mundo (1988/89) e
da revista Xilo (1999). Em janeiro de 2001, a convite
de Soares Feitosa, criou o projeto Banda Hispânica,
banco de dados permanente sobre poesia de língua espanhola,
de circulação virtual, integrado ao Jornal de Poesia.
Críticas
sobre sua obra, assim como entrevistas com o poeta, já foram
publicadas no Brasil e no exterior, a exemplo de jornais como El
Universal (Panamá), El Comércio (Peru), El
Universal (México), El País (Uruguai), El País
(Colômbia), O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde,
Folha de S. Paulo, Correio Brasiliense, O
Povo, Diário do Nordeste, Estado de Minas, O
Globo, O Estado do Tapajós, e revistas como Prisma
(Colômbia), Común Presencia (Colômbia), Paréntesis
(México), Storm Magazine (Portugal), Alforja (México),
Mapocho (Chile), TriploV (Portugal) e Voces
(Estados Unidos) - material crítico assinado por nomes como Sérgio
Campos, Carlos Felipe Moisés, Wilson Martins, José Paulo
Paes, Maria Esther Maciel, Rolando Toro, Jorge Rodríguez Padrón,
Ivan Junqueira, José Castello, Rodrigo Petronio, Eleuda de
Carvalho, Carlos Germán Belli, Miguel Gomes, Alfredo Fressia,
Maria Estela Guedes, Nicodemos Sena.
Com
larga trajetória de colaboração à imprensa, tem escrito
artigos sobre música, artes plásticas e literatura, incluídos
nas publicações citadas e também em outras, como Comércio
do Porto (Portugal), Letras & Letras
(Portugal), International Graphitti (Costa Rica), El
Artefacto Literario (Suécia), Exégesis (Porto
Rico), Crítica (México), Blanco Móvil (México),
Casa del Tiempo (México), e brasileiras como Rascunho,
Alô Música e Poesia Sempre.
Organizou
para as revistas mexicanas Blanco Móvil e Alforja
duas edições especiais dedicadas à literatura brasileira,
respectivamente "Narradores y poetas de Brasil"
(1998) e "La poesía brasileña bajo el espejo de la
contemporaneidad" (2001), bem como as edições especiais
"Poetas y narradores portugueses" (Blanco Móvil,
México, 2003) e "Surrealismo" (Atalaia
Intermundos, Lisboa, 2003), respectivamente em parceria
com Maria João Cantinho e Maria Estela Guedes. Atualmente
organiza a Obra Poética de Carlos Drummond de Andrade
para a Fundación Biblioteca Ayacucho, da Venezuela
Como
artista plástico participou de exposições como "O
surrealismo" (Núcleo de Arte Contemporânea, Escritório
de Arte Renato Magalhães Gouvêa, São Paulo, 1992),
"Lateinamerika und der Surrealismus" (Museu Bochum,
Köln, 1993) e "Collage - A revelação da imagem"
(Homenagem ao centenário de André Breton 1896-1996, Espaço
expositivo Maria Antônia/USP, São Paulo, 1996).
Em
maio de 2000 realizou o espetáculo Altares do Caos
(leitura dramática acompanhada de música e dança), no Museu
de Arte Contemporânea do Panamá. Um ano antes também havia
realizado uma leitura dramática de William Burroughs: a
montagem (collage de textos com música
incidental), na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.
Dentre
algumas conferências que tem proferido, destacam-se "América
Latina e Identidade Cultural" (Centro de Humanidades,
Universidade de Brasília, Brasília, 1998), "Linguagens
contemporâneas e identidade nacional: literatura" (SESC
Pompéia, São Paulo, 1999), "Algunos poetas brasileños
(Ivan Junqueira, Dora Ferreira da Silva, José Santiago Naud,
Sérgio Campos, Claudio Willer, Ruy Espinheira Filho, Adriano
Espínola e Donizete Galvão)" (Faculdad de Humanidades
de la Universidad de Panamá, 2000), "Sobre a condição
editorial de algumas revistas de cultura na América
Latina" (Instituto Goethe, São Paulo, 2001),
"Surrealismo & Brasil" (Academia Brasileira de
Letras, Rio de Janeiro, 2003) e “La modernidad de la poesía
hispanoamericana” (Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos, Caracas, Venezuela, 2004).
Participou
dos seguintes volumes coletivos: Camorra (volume monográfico
sobre Harold Alvarado Tenorio, Ediciones La Rosa Roja, Bogotá,
1990), Focus on Ludwig Zeller, poet and artist (Mosaic
Press, Oakville-New York-London, 1991), Adios al siglo XX
(Edição dedicada à poesia de Eugenio Montejo, Separata da
revista Palimpsesto, Sevilla, 1992), O olho reverso.
7 poemas e um falso hai-kai (Edição comemorativa dos 41
anos de poesia de José Santiago Naud, Thesaurus Editora, Brasília,
1993), Tempo e antítese. A poesia de Pedro Henrique
Saraiva Leão (Editora Oficina, Fortaleza, 1997) e Surrealismo
e Novo Mundo (Ensaios sobre Surrealismo na América
Latina, org. Robert Ponge, Editora da Universidade UFRS, Porto
Alegre, 1999).
Dirige,
juntamente com Claudio Willer, a Agulha - Revista de
Cultura (www.revista.agulha.nom.br). |
|
Sumário
I Alma em
Chamas
1 A poesia e sua rebelião
total, Claudio Willer
2 La incandescencia del
ser, Rolando Toro
3 Um poeta de verdade,
Paulo Monteiro
II Escritura
Conquistada
1 Continente de poetas, Wilson
Martins
2 Escritura Conquistada, Foed Castro
Chamma
3 Un libro que une y escudriña, Carlos
Germán Belli
III O
Começo da Busca
1 Vozes em confluência, Maria
Esther Maciel
2 Ante a busca do que se tarda,
Jorge Pieiro
3 El poeta Floriano Martins en busca
del Surrealismo, Alfredo Fressia
IV Três
entrevistas
1 Humanismo poético. Uma entrevista
com Floriano Martins, Fabrício Carpinejar
2 A
poesia entre o surrealismo e a poesia, Claudio
Willer
3 Floriano Martins a la búsqueda del
Surrealismo, Mönica Saldías
V Vária
1
1 Agulha no ar. Diálogo entre
os editores, Floriano Martins & Claudio Willer
2
Carta de recomendación, Jorge Rodríguez
Padrón
3 Curriculum vitae: Floriano
Martins
VI Vária
2
1 Peles
de tantas mulheres [sobre Estudos de Pele], Valdir
Rocha
2
Una aguja en la red del mestizaje, José Ángel Leyva
3
Uma conversa com Floriano Martins, Álvaro Alves de
Faria
VII Surrealismo
1 Surrealismo
& Brasil [conferência]
2
El viejo incendio en una nueva antología (reseña),
Adriano Corrales
3 Recuerdos de la Feria del
Zócalo México 2004, Susana Wald |
|
10 POEMAS DE
FLORIANO
MARTINS |
|
O
destino das pernas
O
alfabeto alheio das pernas
que vão se chegando, somando-se
ao murmúrio de outras
que se comunicam
entre ânsias e seduções, pernas
que fisgam a ilusão precisa
em cada moenda de gestos,
o alfabeto delas,
lustrando suas letras,
a serem gastas no ardil do desejo.
As
pernas, por onde andá-las,
comover o capricho de suas teias,
soletrá-las na passada mínima
de um feitiço a outro?
Por onde se põem em desalinho
quando menos se espera?
Elas, dando lições de vertigem
ao tempo que trafega entre seus passos.
O alfabeto, sim, graças a ele
É que elas são esta queda em si
de tudo quanto apreciamos na vida.
Como estimá-las longe de tudo,
rabiscar a ausência das pernas
em nosso estar tão promíscuo
em dores cuja origem desconhecemos?
Essa
floração de signos que não vemos
senão como descaminhos,
pontes de seda,
seus desmandos que elegem
nossas fraquezas mais irreconciliáveis,
a usina secreta do passo em falso,
por onde deixamos de ir,
por onde não vamos nunca,
alheios a ele,
o alfabeto que se escreve em nós,
as pernas
que consideram nossa ausência de tudo,
os caminhos desfeitos em sinais precários,
prenúncios de estradas derruídas,
elas que não cabem em si,
couberam – nunca se sabe –,
por onde andamos: comovê-las na andança,
falseá-las,
pernas?
Ao
cruzá-las por onde segue o tempo?
Investe em quais abismos líquidos?
O sal do fascínio,
humores que se distraem a cada toque,
esmero de ânsias
– para onde levá-las,
quando desviam sinais,
esmiúçam ambigüidades,
bailam imprevisíveis
ante a imagem que fazemos delas?
Soberbas na luxúria de suas afluências,
um súbito desmaio de cadências, apenas
para dizer que ali,
entre palmos imaginários,
podem ser outros meios,
pôr tudo a perder, conciliar ruídos,
quimeras de ponta-cabeça,
simulacro de marchas,
desvario, andamento,
andamento…
Para
onde tantas pernas, quantas,
o que sabem de nós?
Radiação
de rastros por toda a pele dos radares,
bússolas famintas,
quando ausentar-se de si o colecionador de pernas?
Um verso deixado na ponta do leito,
assentadas como um enigma,
um crime por resolver,
por elas vamos nos deixando
levar à autópsia de nossas perdas mais íntimas,
o embaraço das precárias decisões,
vícios agregados,
quedas mal repartidas,
hastes que ensaiam vôos
em busca de outros significados,
ociosa locomoção de infernos,
pernas fora do jogo, as minhas, quantas agora?
Multiplicar
os defeitos
irreparáveis
das passadas por onde fomos,
a sopa de equilíbrios de que se alimenta a esperança,
a inocência arqueada,
a lonjura
apeada antes que goze sozinha.
Para tantas pernas, como se desfazer de verbos,
desfalcar acenos,
ou simplesmente saltar páginas
de uma andança a outra?
Então
para que tantas,
se evitamos o subúrbio de suas passadas,
se não passamos de assaltos,
semínimas,
nudez difamada por vestes indecisas?
Onde a conquista das pernas
e o badalo de seu esplendor,
– um golpe que seja –,
o roubo a tempo no crematório?
O que fazer com elas, como passá-las,
por onde andá-las,
ufanar-se de que mérito, deixá-las ir,
sem vírgulas,
passos?
Amiúdam-se,
coladas a um cinismo
constrangedor, com ar
de quem nos espera
à saída do caos, quase de todo
fingidas de si.
Já não sabemos quantas, e não fazem
outra coisa senão imposturas,
volteios, ardilezas
em tablados invisíveis, elas.
Para onde saltamos em suas colunas?
Quais galerias nos devoram, corredores
que são passadas
encharcadas de mistério?
Como se chamam essas pernas?
– acaso agora se pareçam outras.
Quantos
somos em suas mãos?
E nomes, os temos? Como
nos comunicamos
por entre seu mobiliário de tropeços?
Algum de nós desconfia
do caminho que estamos fazendo?
Elas se encaixam na própria voragem
como construções fortuitas,
as pernas,
que levamos dentro de cada,
abrigo insondável
– é o que parecem nos dizer –
de uma evidência que a qualquer instante
pode nos atingir.
Contudo,
o único extremo que se manifesta
é que desconhecemos nossos passos,
a tal ponto que elas,
dissimuladas entre vírgulas,
artífices galhofeiras de ilusões,
devem ser mesmo nossas,
por mais que estranhem
que não saibamos infringir seus percalços.
Haverá
um limite, um ponto qualquer,
em que o estorvo se cansa,
a fraude se desfaz naturalmente,
o tormento rebenta por falta de coro,
haverá?
Ou a intemperança
entope-se apenas do inútil
e não há salvação nas sobras?
Por onde fomos as pernas eram outras
e em tal descompasso
que desconhecemos a isca,
o engodo
das letras, o alfabeto disforme e alheio
mais a nós do que a elas,
as pernas,
os nós em que nos engalfinhamos
antes da última topada,
onde o abismo se esgota. |
|
Criaturas
de espanto
Pasa un convoy de brujas
caprichosas
Jacobo
Fijman
Ao longe se vê uma grande
festa.
Selvagens golpes da luxúria sangram a paisagem de
sóis que retornam ao sonho de cada personagem.
Três músicos
acendem uma dança audaciosa.
Dália agachando-se sobre o
corpo de Alfredo, sombras gemendo desesperadas por novas
formas.
Como aprofundar o batimento dessas árvores,
O
tenso agulheiro onde se agitam e gozam e se retorcem as
árvores que são pássaros e Dália e Alfredo?
Terão ali
ocultado uma biblioteca de tormentos,
os livros secretos do
abismo, com pés e mãos atados para que as visões não sejam
jamais tocadas?
Incontáveis eu te amo foram
pronunciados:
a sopa de sarcasmos dos ratos, a pasta de
ervas das meninas, acordes desfigurados, encantamento.
A
noite de Alfredo cabe no ventre de Dália,
e se agita em
suas ramagens, noite possessa vestida de vozes em íntimo
contato com outras cenas.
A noite de Dália avança,
penetrando a si mesma,
transparência afinada pela dança,
entoando a nudez ardente de palavras que são o segredo
cobiçado,
uma vez mais eu te amo em vigília de
chamas,
criaturas de espanto que saltam iluminadas pela
mansidão desse amor contraído em plena
Queda. |
Às
voltas com a violência
(e suas campanhas)
Só pensamos em violência
quando somos movidos por alguma ação violenta. Por mais óbvio
que possa parecer, nada nos afeta a ordem, exceto a desordem.
E há ainda uma lógica perversa: aquele que articula qualquer
campanha contra a violência, certamente acaba de sofrer
alguma. O próprio conceito se mostra deformado, limitando-se a
ação a danos físicos ou financeiros. Na verdade, somos mais
cúmplices do que vítimas das articulações entre causa e
efeito. A onda de criminalidade propagada, se observarmos bem,
é mero efeito de nossa inação. E tal fato não ocorre no plano
físico, no tiro à queima-roupa ou na votação de emenda no
Congresso. Este é tão-somente o patamar das decorrências.
Pensar que a inspiração está no cumular desigualdades é uma
tolice, uma ingenuidade sem par. A menos que se circunscreva a
história da humanidade aos limites de uma tábua santa onde se
lê: o homem é um animal violento. Assim, o garoto
maltrapilho com olhos esbugalhados no semáforo constitui o
padrão de violência de uma classe média encharcada de culpa.
Mas há inúmeros outros, uma vez que também esta senhora possui
seus estatutos, entre esquivos e espinhosos. Tanto é violenta
a política econômica escoada do Planalto Central quanto a
falta de caráter de artistas que aderem a campanhas políticas
em busca de autopromoção. Tanto é violenta a política de
subvenção da produção cultural quanto o descaso do poder
público para com a recuperação do acervo cultural do país. São
estes, aliás, alguns dos lugares-comuns da violência. Mas há
criminalidade de toda ordem, sobretudo aquela que se pode
chamar de criminalidade branca, que degrada e distorce os
conceitos morais de uma sociedade. Editoras adquirem direitos
autorais de autores que não pretendem publicar. Professores
universitários promovem a má literatura que escrevem em salas
de aula. Jornalistas barram a divulgação de matérias que
constituam concorrência a seus interesses pessoais. Em nenhum
caso, um ente tem o braço canivetado no semáforo. Então não é
violência. Violência é quando estabelecemos uma diferença
entre o que dói em mim e o que dói no outro. As campanhas de
paz, por exemplo, são flâmulas de um mea culpa ou a
sacolinha de um pastor evangélico? Ou acaso serão fruto de uma
súbita consciência social despertada ao se ter a filha currada
na esquina? Reflitamos: o homem só pensa na violência quando
esta lhe desaba sobre os ombros. Ou quando lhe atrai. Quanta
violência podemos gerar em nome de uma ação contra a
violência? Disse certa vez René Magritte que "a liberdade é a
possibilidade de ser e não a obrigação de ser". A violência,
por sua vez, é a expressão de uma obrigação ou de uma
possibilidade? Somos violentos por natureza, por esporte, por
conveniência. Sempre que pensarmos em quanto o mundo tem
andado violento, não podemos deixar de lado nossa
cumplicidade. Somos todos violentos, inclusive os violentados
que movem campanha contra a
violência. |
|
Extravio de
noites # 4
O espelho no
canto rabisca tua imagem: um seio abusado sobre a página do
livro que te dei: a magia do espelho quebrado é uma
longuíssima viagem sem regresso. O verso de Cruzeiro
Seixas parece ter sido escrito por meu desejo de que
estivesses ali. Tão sinuosamente nua que me deixo iludir pelo
jogo de atalhos de teu corpo. O espelho me decifra um
sombreado de vertigens. O olhar provocando adivinhações: onde
o pousarás, onde? Deixa-me ler outro verso ante teus gemidos:
no espaço imenso o que não está por acaso está por
engano. O espelho ainda ali, enquanto gozamos. Suores
emanam das páginas de um livro lido ao revés na pele do
espelho. Por vezes não sabemos se estamos chegando ou saindo.
O abismo não tem ponto. Mesmo o descanso de cena é um completo
desatino. |
|
Extravio de
noites # 9
Porque hoje como sempre
te
amo até a febre,
contempla comigo
teu nome sobre as
tormentas.
Julia
Otxoa
O corpo está tomado de véus
que são
cortes profundos na pele
e são taças de um desastre
no
bosque de teus sonhos:
o corpo folheado com seus recortes
de gozo
e estamparias laminadas que são rabiscos
na
pedra esboçada em teu ventre
e pentelhos de fogo como
árvores que se exibem
ante um derrame de vozes:
o corpo
onde estavas quando a noite
entoava ventanias e um olho a
descoberto
engolia toda a paisagem imaginada:
o corpo em
ruínas que se estreitam
a recompor vertigens que são nomes
inscritos
em aves rochosas que se chamam coxas
e um
tropel de vultos ao passar de páginas de teu corpo:
por
noites te chamo mascando nomes
como um dilema febril a
confundir imagens
como credenciais a evocar rasgos
que
anunciam a tormenta da restauração:
o corpo se refazendo a
cada anúncio do
fim. |
Vestes
Os panos nus.
Nenhuma
imagem sangrando na pele
de tecidos prontos para o
afago.
Recito essa nudez com um par de asas.
Um demônio
agachado,
colando os lábios nos meus.
De onde me vês
serei um córrego de ossos,
calcinado deleite de tuas
almas,
umas poucas, as que não souberam
preservar o
horror que as antecipa
e compreende.
Rostos engordurados
em cerimônias…
E como te postas, demônio,
mordendo-me os
seios, como te postas?
Um olhar a escolher
ossos.
Carvões astutos e conhecedores da fábula.
Vê bem
o que trago comigo,
este corpo minguado em débeis
luas.
Preparas uma pele para mim?
Dá-me tuas facas,
esporões, chifres,
a ponta imperfeita de teu falo.
Vês
como me faço em mil coxas,
viscosas como iscas, e todas
soletram
a queda que
anuncias.
Os panos
sobre o vazio, nus.
Equilíbrio voltado para o
chão,
rostos desfeitos de vítimas que não alcançam mais
ofertório, o pé de um deus encontrado em escavações, por onde
me sagras,
puto
demônio,
por onde
me despedaças desejosa de tua saúde.
Meu corpo
em lascas, santuário decrépito
de tua perversão,
cascos
me arranhando o tecido da memória, sim,
uma mínima dor
palmilha insuspeitas procedências,
e sabes o quanto me dói
tua abundância,
o pote que indicas e ansiosa ponho-me a
buscar ali a resposta para o aflito
cultivo
de dores
por todo meu corpo.
Carrego comigo todas as
formas
com que me atacas.
Quais máscaras perpetuamos, as
minhas, as tuas?
Meus lábios te queimam a pele.
Óleos
acesos enquanto nos desfazemos.
Os panos como papiros,
inscrições invisíveis que ensinam a manter quente a cabeça de
um deus
morto.
Nus.
Com a medida do inferno de cada dobra
do tecido de
que somos
feitos. |
|
Versões
Roedores confabulam em uma ceia de
papiros.
Contar é existir, entre
guinchos sarcásticos
deixa escapar um deles.
Mortos os amantes,
que amor conhecerão
agora?, indaga um outro.
Divertem-se com
alguns manuscritos os ratos:
Dália não
dava repouso a Alfredo, mostrava-se
mãe
amante irmã e o tolo deixava-se
seduzir
pelos caprichos vorazes de quem
julgava amar.
E logo um outro apressa-se
a roer e contar
a própria versão: Alfredo
tinha visões, um mapa
de precários vultos
que lhe atormentavam.
de precários vultos
que lhe atormentavam.
de precários vultos
que lhe atormentavam.
de precários vultos
que lhe atormentavam.
O mais faminto:
o débil inventara as três moças.
E
seguem roendo pedaços a mais, os restos
da
história, refazendo-a sem nenhum
pudor. |
S/título
A perna docemente erguida
sobre a página:
um verso assim não escreves sem meu
gozo.
Sabia como marcar as frases onde retornar.
Os
dois se buscavam entre enigmas e risos,
devolviam a cada um
o que iam encontrando,
restos do outro, pequenas sombras
dispersas.
Abro-te os lábios todos da casa. Não vês
ali
na varanda uma parte de ti já esquecendo-se?
A
voz podia estar entregue a qualquer um,
a dar por assombro
a noite em um capítulo
de espasmos: olhos rabiscando-se,
imagens
saltando do sexo de ambos, toda ela, todo
ele,
tudo para encontrar-se e dizer: já
estivemos.
Somente o amor nos revela o que
perdemos. |
|
Ecos do
cântico perfeito # 4
Meus olhos não encontram descanso para o
vento.
Por mais que desenhem torres complexas de fogo,
a
memória recolhe pupilas boiando em mapas líquidos e rádios
emudecidos como que confabulam acerca do inevitável na
ausência de corpos quando se almeja apenas provas.
Por que
o céu é tão claro quando me sinto falido?
Um suspiro que
seja da realidade não encontro em minha caixa postal.
Com
declarada perseverança apenas o sonho e a nostalgia me
visitam.
Talvez a realidade não passe de uma bala
perdida.
Tráfego de desordens, tráfico de cânones…
Acaso
os poetas sabem onde estão metidos?
Haverá ainda algum
lírio no campo?
Como afirmar tanto em um ofício afeito à
dúvida?
Ídolos que comam cinzas e poeira: o barro amassado
da poesia corresponde a quedas que inspiram novas
correspondências. |
|
Anotações da memória
A Roberto
Piva
Dentro de todos os saltos o
da memória. Para onde ela caminha, o que rompe e deseja. Viver
com ela por vezes enfadonha, e miro um despojo de si. O que
vem à memória é sôfrego, não aperfeiçoa-se de outra maneira.
Tua cidade está aberta, senhora? Indaguei ao sem nome,
crendo-o adamado. O previsível amontoa-se sobre si mesmo. Dali
não escapa senão como um abismo remoto. Mas já ninguém o
necessita, por excesso de uso.
Um monge retorna de
peregrinação e diz: a matéria está como a deixei. Jamais
conseguiu livrar-se de si. A memória quer vê-lo morto. Um
punhado de palavras agonizantes sugere o que veio fazer
amarrado à sua terra. A memória nos encurrala dentro da sala
com visitas, os parentes disparando um último enigma:
vieste para apodrecer.
Dias escrevendo um mesmo
poema ou alimentando a volúpia de imagens de uma tela. Um
descuido perfeito nos leva a crer na destruição do mundo.
Quanto tempo tens até que eu te mate? Nenhuma vítima jamais me
perguntou isto. Nossa relação com o tempo está baseada na
ilusão da eternidade. A menina encontrada morta no lixão, os
olhos faltando. As palavras finais do enforcado: não cometi
atos de impureza. Dois amantes cegos. A memória constrói
uma casa indefesa.
E quem a habita?
Para ali levamos os crimes
primários. Pequenos furtos de desejos e versos alheios. Um
velho negociante de almas conforta a clientela dizendo-se guia
dos inclementes. A memória é o lugar menos indicado para
alguém apiedar-se de si. Leram nos jornais sobre o louco que
foi preso apenas por haver indicado o local exato onde estaria
assando o sétimo e último corpo devorado? Os mortos eram
ninguém. O maluco sentenciado a sete prisões perpétuas disse
não entender nada sobre o destino da humanidade: Que falta
faço ao mundo?
A memória invertida é uma
medida de adoração. Caímos do que sequer imaginamos ou nosso
infortúnio não passa de um drible de tempos? Um mesmo monge
descia a cordilheira com alguns versos no alforje. O número
não tem fim. Nem mesmo a memória escapa de si. Vez que outra
vou por onde não me lembro. Dizem que os grandes saltos não
sabem por onde começar. Desfaço-me de tudo. Deixo anotado em
algum lugar que não devo me lembrar de mais nada. |
Nos bolsos da
sonâmbula
A solidão
está na esperança,
no triunfo, no riso e na
dança.
Luiz Cardoza y
Aragón
A solidão estava por toda a
casa, enquanto caminhava ausente de si. Por vezes dançava e
ria, no triunfo de uma quase debilidade. O corpo movendo-se
entre o espasmo e a heresia. Dança de esvoaçante nado. O
garoto a via no mergulho em um engodo ancestral, debatendo-se
pelas ramagens da própria queda. Havia um cheiro que levaria
consigo até a essência de seus escritos. A mulher ali à frente
ritmava-lhe a infância. Ele, o insone; ela, a
sonâmbula.
Nada disso. Intuía ser outra
a razão da presença/ausência de ambos. Nada lhe era de todo
invisível. Vendo-a insinuar-se no desenho rítmico de seus
acolhimentos, um mundo começava a abrir-lhe parênteses,
recebia recados do acaso, anotava sigilosas imagens. Vê-la
caminhar pelas dobras de um abismo interior era uma fortuna
inigualável. Decerto deixaria que toda a infância fosse tomada
pelo espectro indomável daquela mulher recebendo distintas
entidades. Mas não. O tempo com ela não se deteve o
suficiente. Logo se foi sem tambores.
Os tambores ele próprio
desenhou. A sonâmbula trazia muitas vozes nos bolsos de sua
pele. Antes dela a mãe tremia ao descrever assombrações que
lhe assaltavam as noites. O convulsivo dança enquanto dura a
projeção do abismo. Aqueles tambores todos sondavam-lhe o
baile ulterior. Acompanhara o roçado secreto daquela mulher,
manifestações com chumaço ou praga, guizalhados, bufos,
zumbidos, martelares, guinchos, cacarejos.
Tambores.
Amara aquela mulher, mais do
que duas primas que sorrateiras enfarinharam de encantos
alguns momentos guardados de memória. A idéia do perdido se
construía com delineada firmeza. Um tufo de alegorias, uma
untura de espantos, o isqueiro do cognoscível. A memória
dançava. Corpo segurado por outro, agitando-se em círculos
incansáveis. Mares de fibra cobrindo e descobrindo a cena. Um
teatro do encoberto. Terra de outros ares sendo ela mesma a
própria terra e sua impossibilidade.
O corpo nu lhe atraía, tanto
quanto a astúcia e o menoscabo do riso dos tambores. Porém
nada como a inocência daquele olhar quando retornava a si e
lhe indagava o que se passara. A solidão voltava de uma longa
viagem. Mil vezes a mesma tarde, o mesmo longo trajeto,
insondável sempre. Um precário destino com os bolsos
esburacados por planos que jamais compartilhariam realidade
alguma. |
|
A
visita de um lagarto
O
cenário dos sonhos era sempre composto pelas casas da
infância. Silenciosos sonhos com as mesmas salas quartos
telhados. Somente anos depois, quando morreram os pais, é que
os sonhos tornaram-se sonoros e cada cena se mostrava em
terreno próprio. As casas da infância eram um amálgama de seu
destino. Entrava e saía delas por uma parede. Nos sonhos não
havia distinção entre cômodos. Uns tantos móveis indicavam
quando de cada uma se tratava. Identificação que julgava sem
importância. A parede desenhava-se como a de uma biblioteca.
Os livros o conduziam de um lugar a outro.
O que havia ali atrás? Duas
irmãs mimadas disputavam o uso de um piano. Aquele estranho
objeto que emitia sons sem que ninguém o tocasse lhe parecera
a chave da passagem de uma casa a outra. Uma delas lhe dizia
tudo o que não viria a ocorrer. Da segunda receberia o peso de
uma existência talhada a perdas. Suas visões eram mais
propriamente um anátema. Teclas do piano saltavam de tigelas
de sopa, corriam sorrateiras para debaixo de guarda-louças ou
escondiam-se nas altas prateleiras de armários na despensa.
Inúmeras as noites em que acordava asfixiado com as cordas do
piano apertando-lhe o pescoço. A primeira das irmãs a morrer
foi sua mãe. O piano tornou-se intocável. Jazia silencioso em
uma sala fechada na outra casa. Nunca mais se lhe ouviu um
único gemido. Gastou-se entre poeira, cupins e
goteiras.
Nada nos sonhos denunciara a
loucura que acometera a tia. Alguns personagens nos tantos
livros que lia. O entrar e sair naquelas duas casas. O garoto
recortava silhuetas de suas visões, colando-as nas páginas dos
livros ou soprando-as no ar, imaginando que alcançassem
abertas inexistentes janelas ou mesmo que mergulhassem em
saliências de quadros, nas demais paredes ou em reproduções em
inúmeras revistas que folheava.
Nessas idas e vindas – já
não recorda se sobre um tanque de roupas ou se lentamente
movendo-se para fora de um livro – vislumbrou uma presença
distinta entre as demais. Que forma assumiria tal vestígio em
sua vida? As formas significam muito pouco. Poderia seguir
recortando-as. Por uma aurícula errante trataria todas as
cobras de duas cabeças. Chamaria raio os esfaqueamentos
misteriosos que não raro eram comentados em casa. E daria
pernas ou asas ao pescoçudo gramofone da avó. As formas não
lhe bastavam. Um novo personagem lhe despertara para tanto.
Arrastava-se brincalhão sobre seu corpo. Não lhe eram mais
enfadonhos os sonhos, embora seguissem silenciosos e em
repisado repertório. Tudo permanecia o mesmo, mas ganhava um
significado. |
|
ACESSO GRATUITO A 2 LIVROS DE FLORIANO
MARTINS
(basta clicar sobre
a capa) |
|


|
|
|